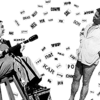Leituras complementares
chuva, suor e cerveja
Chuva, Suor e Cerveja
Eduardo Logullo
“Venha / Deixa / Beija / Seja o que Deus quiser”. Os versos de Caetano Veloso no frevo lançado no verão de 1972 por Gal Costa talvez sejam o compasso certo para explicar o desbunde do carnaval baiano e da Praça Castro Alves durante os anos 70. A pequena grande festa que movimentava apenas o centro de Salvador hoje se transformou numa indústria saltitante de Danielas e Ivetes, restando apenas imagens daquela celebração pagã, libertária e eletrizante.
A folia de rua na Bahia data de 1884, quando surgiram os desfiles populares organizados. Seriam seguidos, no período posterior à Abolição da escravatura, pelos primeiros afoxés: Pândegos de África e Embaixada Africana. A gênese é inter-racial, portanto. Salvador e Rio de Janeiro são matrizes nacionais dessa festa, conquanto entre os cariocas o período carnavalesco fosse revestido de aspecto mais lírico, mascarado e brincalhão, com bailes aristocráticos, batalhas de confetes, desfiles, corsos e cordões. A historiadora paraense Eneida de Moraes (1904-1971), figura intelectual legendária no levantamento cronológico do carnaval da ex-Capital Federal, afirmava: “O que caracterizou nosso carnaval do passado foi a preocupação dos foliões em se apresentar, nos bailes ou nas ruas, nas festas ou nas batalhas, fantasiados. Para o carnavalesco de outras eras não podia haver carnaval sem máscaras e fantasias”. Esse aspecto ornamental também seria copiado na Bahia, contrastando com a participação popular e miscigenada encontrada desde o final do século 19 nas ruas e becos de Salvador.
Mas se os cariocas profissionalizaram a grande festa até torná-la em luxuoso espetáculo multimídia, os baianos mantiveram as grandes concentrações populares como expressão maior do Carnaval. Cá pra nós, bem que eles tentam organizar a folia, mas inexiste por lá a engrenagem metódica imposta pelos carnavalescos-cenotécnicos, o “mantra” contínuo dos sambas-enredos e a devoção quase religiosa às agremiações de samba. Em outras palavras, o Rio requebra e Salvador pula.
Antes, segundo Fred Góes no estudo “O País do Carnaval Elétrico”, Salvador festejava a data em clubes como o Fantoches da Euterpe, Cruzeiro da Vitória, Inocentes do Progresso, Tenentes do Diabo e Democratas. Nos salões, “polcas, marchas e dobrados, ou ainda maxixes, batuques e adaptações para compasso binário de certas composições consagradas e de efeito, como a entrada das trompas da ópera ‘Aída’”. Nas ruas, marchas carnavalescas celebrizadas pelo rádio. O povão, chamado de “público” assistia aos desfiles das elites ou fazia batucadas na Baixa do Sapateiro. Nas ruas, famílias colocavam cadeiras nas calçadas — costume que se prolongou na região central de Salvador até a metade da década de 70.
O grande pulo baiano tem data e foi inventado pelos músicos Dodô e Osmar. O ano, 1950. Posicionados em um calhambeque Ford, irromperam nas ruas tocando frevos amplificados por alto-falantes e acompanhados por cavaquinho, violão e paus-elétricos, as toscas ‘guitarras’ criadas por eles. Revolução imediata nos ouvidos e quadris. O que era aquilo? Nas laterais do automóvel, lia-se “A Dupla Elétrica”. No ano seguinte, o entra o terceiro componente, Aragão. Batizados de “O Trio Elétrico” continuavam na fobica dirigida por Olegário Muriçoca, reunindo-se ao lado do Cine Guarany, em frente à praça Castro Alves. Esse trio gerou um contraponto “branco” ao aspecto africanizado que começava a dominar parte da folia de rua soteropolitana. O afoxé Filhos de Gandhi, por exemplo, foi fundado em 1949. Sem Dodô e Osmar, talvez o carnaval popular da Bahia tivesse seguido uma trilha hegemonicamente black.
O frevo tocado por eles trazia raízes pernambucanas, embora já considerado um ritmo de aceitação nacional. No Recife, os frevos eram metálicos, orquestrais e musicalmente caudalosos. A tríplice aliança dos baianos simplificou tudo aos acordes básicos, pegando os foliões pelas notas agudas e penetrantes. Durante duas décadas o trio repetiria a performance, até que Caetano Veloso, em 1969, antes de embarcar à força para o exílio em Londres, lança um disco que continha a faixa “Atrás do Trio Elétrico”. Uau.
Esta canção logo virou hit nas rádios e chamava a atenção do país para o carnaval baiano. Note-se que no mundo ocidental a guitarra era símbolo da transgressão e de juventude. Misturar guitarras ao carnaval renovou o repertório carnavalesco e rachou a folia ao meio: de um lado os velhos babaquaras com suas marchinhas de salão; de outro, os cabeludos e desbundados com a carnavalização eletrificada, enlouquecida, catártica. Nada mais ficaria como antes.
O ano de 1972 assinala exatamente o início dessa fase, digamos, contracultural do carnaval baiano e que durou menos de dez anos. Naquele verão, Caetano e Gil voltam do exílio londrino, Gal era a musa do underground, Bethânia enfeitiçava com “Rosa dos Ventos”, todo mundo estava com os cabelos mais longos do que nunca, os umbigos viviam à mostra, os lábios rubros de batom, tamancos, flores, beijos de língua, fumo, ácido, som, por de sol, magreza dos corpos. No período pré-carnavalesco, Salvador era o epicentro de freaks, hippies, malucos, mochileiros, artesãos, músicos, traficantes, artistas alternativos, poetas. A Bahia ganhava status de refúgio transcendental. Ipanema até podia ser mais descolada e cheia de informações. Salvador era sol, mar azul, umbu e pés descalços.
Na Praça Castro Alves, temperatura máxima. Ali acontecia o encontro de trios e blocos, entre barracas de festa de largo, com espaço para andar, namorar e se divertir. A folia se estendia da Praça da Sé ao Campo Grande. O Pelourinho, ainda sem restauração, zona proibida e perigosa. Carnaval na Barra? Nem pensar. Na praça havia um mar de cabelos, lama, cerveja, cheiro de mijo e loucuras. Em 1975, outra revolução: o trio dos Novos Baianos. Caminhão enorme, amplificado por sistema de som profissional, microfones e palco. Baby Consuelo, Paulinho Boca de Cantor, Bola, Dadi, Gato Félix, Pepeu Gomes e a turma da pesada fizeram o carnaval baiano pegar fogo. A festa ganhou punch. Moraes Moreira também inventaria o seu trio, provocando encontros trepidantes nas ruas da cidade.
Mesmo sem ninguém mencionar o termo “Área Vip”, a Praça Castro Alves atraía um elenco inacreditável para a época. Gal vestida de pierrô, Caetano de calção e camiseta, Dedé Veloso, Wilma Dias, Sandra Gadelha, os Dzi Croquettes, Sonia Braga, Maria Bethânia sentada em engradado de cerveja, Torquato Neto, Jards Macalé, Waly Salomão, Jorge Mautner, Nelson Jacobina, Jorge Salomão, Norma Bengell, Rogério Duarte, José Simão. Em 1974, a cantora Maria Alcina apareceu por lá com uma lata cheia de lantejoulas para brindar os amigos.
Havia ainda a ‘fechação’ das bichas. Exageradas, loucas, abusadas, subiam nas escadarias para desfiles absurdos: Marcos Rebu, Domingos Portella Lima, o argentino Fernando Noy (com a bunda inteira de fora, sua marca registrada), Makumba, Pedra, Jaiminho Urubulina e a inenarrável Peteleka. Esta última, mulher de verdade. Atores locais de teatro tornavam a mistura mais eclética, agrupando Nilda Spencer, Jurema Penna, Álvaro Guimarães, Helena Ignez, Sonia dos Humildes, Nonato Freire, Mario Gusmão, Sonia Dias, Gesse Gessy, Bemvindo Siqueira, João Augusto, Márcio Meirelles, Eugênia Millet, Jacques de Beauvoir, Teresa Sá, Eduardo Cabuz. Do povo de dança, Clyde Morgan, Laís Salgado Góes, Lia Robatto. Os paulistas José Possi Netto e a ainda atriz Zizi Possi faziam seu début no pedaço. Figuras de todos os naipes: Antônio Risério, Paulo César de Souza, Dourado, Heitor Reis, Zezeca Joplin e sua irmã, a fotógrafa Thereza Eugênia, Ieda Alves, Jorge Santori, Ney Galvão, Letícia Muhana, Armindo Bião, Luciano Diniz, Dicinho, Nando, Aninha Franco, Carlos Borges, Amilton Celestino, Luana de Noilles, Renatinho Gordo, Zulu. E até Cida Moreyra. Festa de arromba.
Os músicos dos trios desciam para beber cerveja, comer acarajé, dar um tapa na pantera, namorar, beijar qualquer criatura na boca. Baby Consuelo carregava a bebê Riroca numa cesta de vime. De vez em quando rolava briga entre os “locais” e os “intrusos”, estes geralmente vestidos em mortalhas de blocos. A turma permanecia ultra-animada até o dia raiar, quando acontecia a retirada cambaleante dos farrapos humanos. No dia seguinte, replay.
Ploft. A chegada dos anos 80 trouxe grandeza ao carnaval de rua e o ocaso da praça como ponto de encontro “descolado”. Bandas como Eva, Trás-os-Montes e Chiclete com Banana, acoplados a cordões com isolamento e trios gigantescos, apagaram aquela atmosfera singela de chuva, suor e cerveja descrita por Caetano. Blocos afros, como Badauê, Ylê-Aiê e Olodum, ganharam densidade percursiva, atraindo milhares de adeptos. Devido ao fluxo de visitantes crescer feito avalanche, a Bahiatursa se uniu ao governo estadual para estruturar a folia que hoje se estende até a orla. Carnaval agora é produto de mercado, enquanto o espírito da festa se divide entre patrocinadores, camarotes, promoters e transmissões televisivas. A geração de Daniela Mercury, do coté Pituba, e Carlinhos Brown, do coté Candeal, traduz a divisão gerada pela profissionalização do carnaval baiano. Animado, inter-racial e rico, sim. Mas definitivamente distante dos vapores baratos e desbundes de antes. O chão da praça não balança mais. Acabou-se o que era doce, neném.