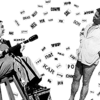Leituras complementares
a nova consciência nos trópicos e a imprensa do desbunde
A Nova Consciência nos Trópicos e a Imprensa do Desbunde
Entrevista com Luiz Carlos Maciel, por Patrícia Marcondes de Barros
As idéias contraculturais, provenientes do movimento hippie dos Estados Unidos, chegaram ao Brasil no final dos anos 60, adquirindo cores locais incompreendidas por grande parte da população brasileira. Estas idéias ganharam visibilidade com o Tropicalismo, apreendido por muitos como algo exótico, um “enlatado americano”, uma moda burguesa, considerada um verdadeiro perigo para a sociedade, devido às suas idéias desagregadoras da família e do sistema. O “desbunde” era denominado pela esquerda ortodoxa como um movimento “imaturo”, subjetivo e individualista. Seus participantes eram rotulados de “meninos de Marcuse”, “alienados” e, por fim, “malucos” por causa da valorização dos processos intuitivos, sensórios e imaginativos. As críticas, contudo, não impediram as manifestações da contracultura brasileira, que obteve visibilidade através de shows improvisados, espetáculos teatrais, filmes super-8 e publicações alternativas (que raramente chegavam a uma grande circulação e tinham uma existência efêmera). Entre os meios encontrados para a expressão livre das idéias contraculturais, estava a chamada “imprensa alternativa”, designada, genericamente, de underground. Uma grande parte dessas produções permaneceu no anonimato, sendo divulgadas em círculos restritos. Contudo, mesmo sendo um trabalho consumido por minorias, oriundas da classe média, estava ligado ao surgimento de uma nova consciência de juventude, de caráter internacional, resultando numa utopia hippie vivida em vários pontos do planeta.
Luiz Carlos Maciel foi o principal divulgador das idéias contraculturais no Brasil, através de inúmeras iniciativas e participações dentro da imprensa alternativa, a exemplo da coluna Underground (1969-1971), veiculada no semanário O Pasquim, do jornal Flor do Mal (1971) e da revista Rolling Stone (1972-1973). Segue uma entrevista com o “guru da contracultura brasileira”, estereótipo que o irrita, pois em seus artigos e obras nunca teve como intuito “ensinar”, “doutrinar” a assistemática rebeldia da contracultura. Para Maciel, não há conselho a ser dado, nem existe uma trilha segura e única… O passado e o futuro são indeterminados e infinitos, o que existe de fato é o instante e é nele que temos que nos deter. A paz e a felicidade, diz ele, não podem ser encontradas nem na contracultura, nem nas filosofias, nem nas ideologias revolucionárias, nem nas drogas, nem em coisa nenhuma. A felicidade e a paz se encontram no “aqui e agora”, dentro de cada um.
O UNDERGROUND EM COLUNA
Patrícia – Na coluna Underground, editada no semanário O Pasquim, você apresentou textos, informações e teorias vinculadas à utopia iniciada pela Geração Beat, continuada nos anos 60 com os festivais de rock, os hippies, os movimentos underground e seus reflexos no Brasil. No artigo “Questão Teórica”, publicado na coluna, em 1970, você se colocou diante da contracultura norte-americana, se interessou em divulgá-la em outro contexto e apontou os eventuais riscos dessa importação. Em sua opinião, qual foi a contribuição da contracultura norte-americana para a brasileira? Como que as idéias contraculturais foram realocadas em nosso contexto e quais foram os riscos dessa importação?
Maciel – Bom… este “transplante de cultura” (risos) eu acho que se não houver más intenções ocorre de maneira mais ou menos natural, espontânea. Porque aquilo era uma informação que veio a alimentar o processo que já estava ocorrendo, um processo cultural, no caso, de um país subdesenvolvido como o Brasil. Então é uma informação que vem de um país desenvolvido e esta absorção acontece naturalmente, e ela é positiva, fecunda o processo que a adota, né? Que a importa… Sem haver necessariamente princípios, nenhuma coisa de sujeição e de subordinação a esta cultura exterior, uma relação colonizada que era o que se falava antes da contracultura sobre todas das influências estrangeiras e norte-americanas, embora isto tenha sido permanente na cultura brasileira. A cultura brasileira não é autônoma, ela nasceu da cultura européia, eram os franceses, portugueses, ingleses e esse “transplante” primeiro aconteceu naturalmente. A cultura brasileira se desenvolveu com sua cara, com suas características próprias e tudo, então era uma coisa natural que acontecesse. Eu via isso acontecer em mim, porque eu fiz a coluna Underground e porque eu fiquei interessado nessas informações. Quando morei nos Estados Unidos, me interessei, mas, não tão intensamente quanto na época de O Pasquim, porque aí eu estava conhecendo a Beat Generation, era algo parecido com o existencialismo europeu que eu estava mais ligado, mas não havia uma motivação existencial maior da minha parte. Já na época do Pasquim havia, era a época da ditadura militar. Então aquela informação aparecia como uma possibilidade de ação, de discurso, de reação naquele contexto autoritário da ditadura, por isso que me interessou pessoalmente. Eu tava escrevendo no Pasquim e no começo o jornal não estava sob censura, mas depois até acabou ficando sob censura. Eu não tinha uma vocação de escritor de humor, embora tivesse feito isso no início, porque o Tarso me falou que era um jornal de humor. Depois descobri que não era tanto assim de humor, era mais “a casa da mãe Joana” podia qualquer coisa, eu comecei a escrever outras coisas então. Mas eu estava procurando o que escrever e naturalmente eu queria aproveitar aquela oportunidade do Pasquim, porque o Tarso era meu amigo e todo mundo lá fazia o que bem entendia. Eu tinha uma liberdade para fazer uma coisa que eu pudesse dar uma contribuição original de qualquer maneira. Então foi por isso que eu fiz. A maneira que eu absorvia aquilo deveria ser a mesma dos leitores da contracultura. Eu acho que esse “transplante cultural” se desvirtua, esse que eu vivi, como tudo na vida que envolve o vil metal, né? Quando aquilo é utilizado para ganhar dinheiro, para promoção comercial, aí então é que vem as distorções de tudo, pelo processo indiciado pelo objetivo da grana, então não fica uma coisa autêntica. Fica uma coisa para faturar. Um produto para faturar no mercado né? Então o que acontecia na época…a própria Rolling Stone a gente tinha que adaptar ali, a gente precisava de dinheiro. Então as gravadoras, principalmente aPhonograma e a Continental, as duas estavam lançando muito rock, então elas achavam que era o veículo adequado e davam então dinheiro. Mas você vê, aquilo era uma enxurrada de rock aqui para cima, não era o mesmo processo da gente. Não era um processo meu, na Flor do Mal ou na Rolling Stone, era uma coisa do comércio, de vender disco de rock, indústria cultural. Existe uma diferença quando a gente escolhia os nossos temas de rock na Rolling Stone. Eram temas que a gente achava interessante, artistas que mereciam consideração. Na gravadora, não é assim… eles lançam os discos que vão vender mais mesmo, seja bom ou péssimo, piração né? O critério é outro, comercial.
O DESABROCHAR DA FLOR DO MAL…
Patrícia – Após sua saída do Pasquim e a prisão em 1971, você volta ao cenário contracultural brasileiro com o jornal de cunho independente e marginal Flor do Mal, fundado em 1971, por você e pelos poetas Tite de Lemos, Torquato Mendonça e Rogério Duarte. Contemplava poesias em verso, poemas em prosa e alguns textos considerados absurdos pelos menos familiarizados com o tema. Como a “flor” desabrochou?

Maciel – Ela nasceu na verdade, na Vila Militar, na prisão, sabe? Eu estava preso na mesma cela com o Sérgio Cabral. Não o novo Sérgio Cabral, mas o pai dele, aquele que escreve sobre música popular. Eu já tinha feito a colunaUnderground, falando do fenômeno de contracultura e aí o Sérgio com aquela solidariedade de preso que se cria dentro de cela, falou assim: “quando a gente sair daqui, cada um de vocês que estiveram presos comigo vão ter o Pasquim pra fazer o que quiserem. Podem pedir alguma coisa!” Daí eu cheguei e disse assim: “Vou te pedir agora, já! Eu quero que o Pasquimedite um jornalzinho semanal, tablóide e tal, mas só com os nossos assuntos do underground sabe?” Daí ele topou e disse: “Já está atendido o seu pedido!!!!”. Claro que quando a gente saiu fui cobrar logo, mas a Flor do Malnão saiu do jeito que eu pensava, não foi uma extensão da colunaUnderground, porque envolveu outras pessoas: o Torquato, o Tite e o Rogério. Então, não saiu mais da minha cabeça, eu não fui editor da Flor do Mal, tanto é que meu nome nem está no expediente. Os editores eram Tite e Torquato, eu não sei se meu nome está no expediente ou não. Eu sei que tinha que colocar eles na frente e o Rogério Duarte como produtor da arte. Então foi do nosso encontro que foi dando forma… O interesse principal era dar voz aos artistas jovens, de vanguarda, contraculturais, malucos que não eram aceitos em nenhum órgão da imprensa. Então eram os próprios Tite, Torquato, Rogério, poemas deles e tal, e as pessoas que eles conheciam que eram levadas para lá. Algumas delas bem malucas, porque foram levadas pelo Rogério que as tinham conhecido quando ele estava internado (risos). Daí é aquela história que eu sempre conto, do psiquiatra que viu a Flor do Mal e disse assim: “Lindo! Parece aquele jornalzinho que os meus pacientes fazem no hospício”.(risos) Essa era a idéia! Exatamente o que a gente estava querendo. Então a Flor do Mal tinha essa característica assim, de ser assim… uma coisa pessoal, muito blog, como se diria hoje, mais do que uma publicação da imprensa convencional. Isto era intencional. Iam tendo idéias e sentindo como iam desmanchar a cara da imprensa tradicional. O Rogério Duarte disse que tinha que ser tudo escrito a mão, deveria ter uma equipe de calígrafos, como os da Idade Média. Então era uma proposta de imprensa contra os critérios estabelecidos. O Pasquim era imprensa alternativa tradicional feita por jornalistas, era jornalístico. A Flor do Mal não era jornalístico, era uma coisa assim que parecia um álbum de poesias, uma coisa particular. E a gente cultivava isso. A fotografia, que foi no primeiro número, por exemplo, Torquato Neto achou no chão da redação do jornal Última Hora, pisoteado. Bom isso é só para caracterizar o espírito da Flor do Mal, que durou cinco números porque o pessoal do Pasquim, especificamente, o Sérgio, me chamou e disse assim: “Pô Maciel eu falei que ia investir no jornal, fiz, mas não dá! Não vende!” (risos). Era semanal, deveria ter sido mensal, uma coisa assim, de vez em quando, mas eu tinha mania de ir às bancas como todo mundo. ARolling Stone era quinzenal, a Flor era semanal, porque eu resolvi que era semanal, devia era fazer mensal!!! Não fazer o contrário, mas eu tinha pressa, e achava que podia acelerar o processo das coisas.
Patrícia – No texto, intitulado “Pai, porque me abandonastes”, misturam-se imagens proféticas e apocalípticas com a de um Cristo descristianizado, um Prometeu sem castigo, com a de um Édipo liberado, resultando num santo guerreiro que busca a verdade, livre das repressões, da autoridade, da idéia de pecado. Você diz “(…) O novo Cristo é o homem que se liberte de seu pai, imagem psicanalítica da autoridade, e com uma espada vai buscar o fogo do Olimpo para dá-lo aos homens. Mas ele não é punido como Prometeu. É Prometeu-Édipo o novo Cristo, com fígado intacto e olhos bem abertos, sem correntes, sem calvários ou crucificações.” (Flor do Mal. Rio de Janeiro, O Pasquim, Empresa Jornalística, n.4, 1971). Através do artigo, podemos visualizar suas leituras sobre Norman Brown e Reich, contribuidoras do pensamento contracultural. Como era o entendimento dessa nova política, a do corpo e a do comportamento para seus leitores? Aliás, quem eram os leitores da Flor?
Maciel – Eram todos hippies, eram todos drop outs, loucos, meia dúzia de gatos pingados. Mas existia um sentimento assim de fraternidade dos excluídos por opção. Nós achávamos bonito sermos marginais, estarmos à margem, ser contra o estabelecido, não apenas contra, mas não participar do que estava estabelecido. Que é a idéia principal da contracultura de inventar seus próprios meios de expressões, das quais a mais forte foi a imprensa alternativa. A imprensa underground que estávamos propondo fazer, que foi a Flor do Mal. Então, havia essa coisa da fraternidade, essa coisa de brother, a gente não chamava debrother ou irmão, mas esse espírito existia. Aliás, o brother vai aparecer acho com o Black Power, chamava-se man, aqui era “bicho”, Roberto Carlos usava muito. Mas havia o sentimento de que uma fraternidade seria necessária, porque nós éramos poucos e estávamos querendo mudar uma coisa que era adotada por muitos que era a maneira de viver tradicional. E a gente estava propondo uma nova maneira de vida, e essa nova fraternidade, que é uma característica de um grupo em fusão. O grupo em fusão precede o grupo organizado, como na Revolução Francesa. O grupo se une porque tem um inimigo comum e tem uma proposta em comum, daí eles se fundem e daí há esta coisa da fraternidade do grupo em fusão. É uma necessidade de preservação, de defesa. Então na época a gente tinha muito. A coisa do Norman O. Brown foi num sentido de revelação, tudo a ver. Eu fiquei fascinado pela obra Vida contra a Morte, mas mais ainda com a obra Loves Body, que é um livro cheio de epigramas, textinhos curtos, todos estilosos e poéticos, então eu fiquei fascinado. O Vida contra a Morte eu tenho até um pouco de responsabilidade por ter sido lançado em português. Porque foi sugerido pela Rose Maria Muraro que trabalhava na Editora Vozes, de Petrópolis. editora católica, da igreja católica… mas a Rose Marie conseguiu convencer os padres de que aquele livro era importante e então foi traduzido e lançado. E quem falou do Vida contra a Mortepara a Rose Marie fui eu.
“O PODER DA PEDRA”: A ROLLING STONE BRASILEIRA
Patrícia – A revista de música e comportamento, Rolling Stone, lançada em 1972, por você com o mesmo título da similar americana, teve como intuito não apenas divulgar informações acerca dos grandes astros da música pop internacional e nacional, como também de discutir sobre literatura, cinema, filosofia, comportamento, sexualidade, drogas, enfim, uma publicação voltada para o contexto da contracultura. Inicialmente mensal, e depois de periodicidade semanal, persistiu até o trigésimo sexto número e podemos afirmar que foi uma das precursoras do gênero no país. Como que foi esta experiência? Como você conheceu Mick Killinbeck? Qual a trajetória da Rolling Stone?
Maciel – Foi editada por mim. Pertencia ao Mick, a um americano e a um francês. A revista pertencia a Mick que era inglês, esse americano e o francês. O francês não tinha nada a ver com rock, mas foi chamado para administrar com eles e tudo, e o Mick era um fanático por rock. O cara que gostava mesmo, que puxou a Rolling Stone foi o Mick. Mick foi ao Pasquim e me chamou para eu ser editor da Rolling Stonebrasileira, pois eu era ligado no assunto do underground, e eles precisavam de um jornalista brasileiro, que fosse o diretor responsável pela publicação. Não sei se hoje em dia existe isso, de ter que ser brasileiro, de ser responsável pela publicação, mas na época era. Daí eu topei e começamos a fazer. Eu reuni uma turma bem eclética: o Ezequiel Neves, o Zeca, que ficava lá o dia todo, escolhia as matérias, discutia a pauta comigo. O Ezequiel participava ativamente, a Ana Maria Bahiana e o Mautner que aparecia para visitar a redação e acabava escrevendo sobre qualquer coisa. Ana Maria Bahiana fez um filme inspirado na Rolling Stone, se passa nos anos 70 e foi na redação do jornal, tinha os personagens jovens e tal. Eu sei disso porque ela nos chamou. Foi eu, o Ezequiel e o Dropello, que era um garoto na época que fazia vendas do jornal na rua, fazia outras coisas (risos) e escrever não era o forte dele. Para conversar com o elenco, contar como era na época. O Zeca é essencial para falar da Rolling Stone. E aí aconteceu isto na época, tinha os roqueiros, a Cremira, que era uma senhora que participava no grupo de estudos da Dra. Lise da Silveira, psicanalista. Essa mulher é muito famosa no Rio de Janeiro, é uma velhinha que morreu já com oitenta e poucos anos de idade. Estão fazendo um livro sobre a vida dela, uma figura mítica, de orientação junguiana, ela é apaixonada por Jung. Então através da Cremira eu até me aproximei da Dra. Lise, fui lá nas reuniões do grupo de estudo, discutimos a psicologia de Jung, o inconsciente coletivo, essa coisa de hippie, contracultura. O que isso tem a ver com o inconsciente coletivo. A Dra. Lise e o pessoal dela se interessava pelo fenômeno de contracultura, porque achavam que era uma coisa que Jung explicava sabe…e a Cremira conseguiu um emprego de revisora lá, foi contratada como revisora e ela ia todos os dias lá. Ela não tinha nada a ver com o rock, então conversava comigo e me forçava a barra para eu ampliar a área da Rolling Stone para além do rock e discutir estes assuntos de comportamento, daí eu comecei a fazer também. Quanto à verba para a Rolling Stone, o Mick tinha fechado com a Rolling Stone de lá para mandar royaltes, para receber o material deles, fotos e textos e tudo e ele pagava um royalte. Nunca pagou nada, nem um primeiro pagamento desses famosos royaltes. E o Mick é que corria atrás do dinheiro nas gravadoras e tudo. Mas ele também tinha dezessete anos e era físico nuclear, tava aqui no Brasil fazendo não sei o que, tava inventando a bomba atômica no Brasil (risos). Mas era assim, fã de rock, doído, apaixonado! Ele tinha isso, ele contratava as pessoas, pagava direito, tinha uma secretária que pagava um bom salário, aí contratava todo mundo para a redação, todo mundo tinha salário, quer dizer ele não tinha esse negócio brasileiro… porque os jornais contraculturais ninguém ganhava nada, na Flor ninguém ganhava nada! Vide o Navilouca, o Bondinho…ninguém ganhava nada! Só pagava porque era gringo, era um americano, um inglês, um francês, daí tem que pagar né? Mas daí por conta disso acho que eles não seguraram o negócio do jornal. Primeiro não pagaram os royaltes e a Rolling Stone simplesmente parou de mandar material, mas daí a gente roubava do mesmo jeito, né? Daí virou pirata, roubava as matérias todas e… finalmente, chegou num ponto que não dava mais para sustentar.
Patrícia – A partir da revista Rolling Stone, você estreitou sua amizade com Jorge Mautner, e depois se reuniram para fazer uma nova revista underground no Brasil. Surge, então, o projeto da revista KAOS, em 1974. Nos anos 50, Mautner tinha lançado o movimento do KAOS com K, que consistia na subversão e na contestação dos valores vigentes – não apenas políticos, econômicos e sociais, mas principalmente morais, psicológicos e existenciais. Como surgia essa idéia e por que se tornou inviável?
Maciel – O Rogério Duarte é peça fundamental em todas essas produções exceto a Rolling Stone. A Rolling Stone era do Lapi, mas Rogério estava na Flor do Mal e no Caos com K, inclusive ele fez um projeto gráfico lindo. A gente ia fazer uma revista enorme, do tamanho de um bonde assim, tirado de uma revista européia. O Rogério tirou, apanhou para a gente a revista que era grandona, bom papel, impressão a cores, um luxo… e o Rogério fez um boneco, fez o planejamento gráfico, fez o logotipo. Era um Kaos que parecia uma coisa oriental, mas o Rogério falou que era para dar um ar oriental, mas ao mesmo tempo ser só um rabisco. Mas era muito bonita, uma coisa mais marcante no projeto do Kaos, foi o projeto visual. A idéia do release gravado foi idéia do Mautner junto com o Caetano Veloso, conversar sobre o projeto e mandar para os jornais. Não deu em nada, falaram que era coisa de maluco, “maconhado” …imagina …o Caetano não fuma maconha, era o “caretano”, mas acharam que ele era maluco. E realmente era maluco. Nós descobrimos isso porque nossa esperança era uma parceria com a livraria Archete francesa, eles editavam coisas aqui. Nós fomos conversar com o diretor da revista responsável no Brasil. Aí nós explicamos o projeto para ele, tava tudo cem por cento!!! Até o momento que a gente entregou o primeiro número… Aí ele disse: “Isso é coisa de hippie!” (risos) Daí ele não quis fazer… Foi mais um “não fazer” na minha vida (gargalhadas)… e na do Rogério também que é um campeão de “não fazer”. Nós tínhamos inúmeros projetos juntos, um deles era o “Além Disso”. O Rogério fez o planejamento gráfico, o boneco, fez tudo de novo, fez tudo diferente. Quando eu pensei o nome, pensei em relação à imprensa, que eles falam uma porção de coisas, mas além do que eles falam, temos outras coisas para falar… “Além Disso” é diferente. Mas ninguém quis saber mais nada “além disso…”(risos). O Rogério tinha uma visão metafísica do Além Disso: “além do mundo material, uma realidade infinita, maior”.