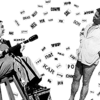Leituras complementares
cinco anos entre os brancos
Cinco Anos Entre os Brancos
Lina Bo Bardi
Extraído de Lina Bo Bardi. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993
O agravamento das tensões estruturais do país que culminaram nos acontecimentos de abril de 1964 refletiram-se também nas atividades culturais. O sistema ‘democrático’ necessitando, para conservar sua elasticidade, de reformas de base, constituiu-se num desafio à classe dirigente, e a subseqüente grave crise marcou uma ‘stasi’, uma verdadeira estagnação cultural que, com a progressiva desmoralização das Universidades e a ingerência de elementos alheios na cultura nacional ameaçam gravemente as possibilidades de saída do estádio de colonialismo cultural.
O esforço de libertação que antecedeu o movimento de abril 64 demonstrou claramente a autonomia do país na procura de uma saída do subdesenvolvimento cultural, e o desmantelamento daqueles esforços está assumindo as proporções de verdadeira calamidade.
No quadro cultural que antecedeu os acontecimentos de abril de 64, marcado principalmente pelo antibacharelismo da Universidade de Brasília e pela ação de dignificação da função pública, e da posição técnica desenvolvida pela Sudene, situam-se o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte Popular da Bahia.
O fenômeno Museu de Arte Moderna é típico de um país novo (os países de velha cultura só criam museus na base de um importante acervo, não existem museus de acervos reduzidos ou de nenhum acervo), onde a palavra Museu tem outra significação da de somente conservar. O Museu de Arte Moderna da Bahia não foi ‘museu’ no sentido tradicional: dada a miséria do Estado pouco podia ‘conservar’; suas atividades foram dirigidas à criação de um movimento cultural que assumindo os valores de uma cultura historicamente (em sentido áulico) pobre, pudesse lucidamente, superando as fases ‘culturalística’ e ‘historicística’ do Ocidente, apoiando-se numa experiência popular, (rigorosamente distinta do Folclore), entrar no mundo da verdadeira cultura moderna, com os instrumentos da técnica, como método, e a força de um novo humanismo (nem humanitarismo nem ‘Umanesimo’). Não foi um programa ambicioso, era apenas um caminho. Aproveitando o ‘equívoco’ vigente no país (somente depois de abril 64 as máscaras cairiam e as respectivas posições seriam definitivamente tomadas), foi possível a criação de um Museu relativamente livre em suas atividades culturais, e o fato de ser Fundação do Estado deu aquela ‘validez’ que somente as atividades públicas permitem, distintas (mesmo quando ‘público’ não significa ‘coletivo’) da iniciativa privada cujos interesses (disfarçados) são sempre lucrativos ou publicitários.
O Museu de Arte Moderna da Bahia, fundado em janeiro de 1960, teve que enfrentar, desde o começo, a hostilidade de uma ‘classe cultural’ constituída em moldes provincianos, a ‘celebridade nacional’ de artistas reunidos em grupos folclóricos (dado o caráter turístico da cidade) e a imprensa local. Três fatores permitiam pensar em um possível desenvolvimento da Bahia como centro nacional de cultura: a existência de uma Universidade em expansão (cujo Reitor, embora não progressista, podia ter sido aproveitado ao máximo se o corpo estudantil não tivesse tomado posições de intransigência verdadeiramente opostas aos interesses políticos e universitários), uma classe estudantil que, embora confusamente, e agindo às vezes em sentido contrário aos próprios interesses, estava no caminho mais certo para uma tomada de consciência política e cultural, mas sobretudo o caráter profundamente popular da Bahia e de todo o Nordeste. O provincianismo cultural era reduzido a uma classe dirigente em via de desmantelamento, e praticamente inexistente quando começasse um verdadeiro movimento de cultura de base. Era o que iriam demonstrar os experimentos de alfabetização coletiva de camponeses no Recôncavo baiano e em todo o Nordeste.
Ao assumir, desde a fundação a direção do M.A.M.B. as possibilidades do Norte do país deram-me a certeza que a inércia conservadora do Sul podia ser superada, em campo cultural, pela ‘tensão’ dos estudantes e pelo caráter fortemente popular do Nordeste.
Comecei o trabalho eliminando a ‘cultura estabelecida’ da cidade, procurando o apoio da Universidade e dos estudantes, abrindo o Museu gratuitamente ao povo, procurando desenvolver ao máximo uma atividade didática.
 O M.A.M.B. funcionava provisoriamente no superstite foyer do ‘incendiado’ teatro Castro Alves, aberto sobre o Campo Grande, no centro da cidade. O acervo era pequeno: poucos quadros cedidos pelo Museu do Estado, reunidos trabalhosamente por José Valladares, diretor até a morte. A verba reduzida do M.A.M.B. não permitia grandes aquisições, mas conseguimos empréstimos do Museu de Arte de São Paulo, e pudemos com uma planificação certa dos recursos, aumentar a coleção: o Museu chegou a ter uma importante coleção de artistas brasileiros e alguns estrangeiros. Na rampa de acesso ao teatro instalamos um auditório-cinema para conferências, aulas, projeções e debates; nos grandes subterrâneos uma escola de iniciação artística para crianças; a Escola de Teatro e o Seminário Livre de Música da Universidade colaboravam. Com Martin Gonçalves, diretor da Escola de Teatro, montamos, no grande palco semi-destruído, cuja nudez aumentava a dramaticidade, Brecht e Camus: A Ópera de Três Tostões e Calígula. Martin Gonçalves tinha criado, na Escola de Teatro um verdadeiro centro de cultura; esboçava-se na Bahia o movimento do Cinema Novo; Trigueirinho acabava de filmar, nas ruas da cidade, Bahia de Todos os Santos e Glauber começava Barravento nas praias além de Itapoã. No Castro Alves os jovens cineastas construíam, com as próprias mãos os cenários: A Grande Feira, Tocaia no asfalto. Superintendente do Teatro Castro Alves, pensei reconstruí-lo não nos moldes do teatro de “Corte” italiano do século XVIII ou do burguês do século XIX, mas como teatro popular moderno, sem a anacrônica mecanização do palco e com cenas laterais; sem a ‘decoração’ pretensiosa. A reconstrução do teatro obrigava à mudança do Museu. Pensei no conjunto do Unhão, cuja construção data do século XVI, que Martin Gonçalves tinha me mostrado em ’58 quando pensava instalar nele uma dependência da Escola de Teatro. Consegui do Governo do Estado a desapropriação e a verba necessária à restauração, e oito meses depois, março de ’63 o conjunto estava praticamente pronto; nele iriam funcionar o Museu de Arte Popular e as Oficinas do Unhão, centro de documentação de arte popular (não Folclore) e centro de estudos técnicos visando a passagem de um pré-artesanato primitivo à indústria, no quadro do desenvolvimento do país. Em novembro do mesmo ano o Museu inaugurava a I grande exposição de Arte Popular do Nordeste e a exposição Nordeste, coletiva de artes plásticas dos artistas da Bahia, Ceará, Pernambuco, e do Centro de Cultura Popular do Recife. O Museu de Arte Popular do Unhão pertencia ao Museu de Arte Moderna da Bahia e tinha como programa o levantamento do artesanato (pré-artesanato) popular de todo o país.
O M.A.M.B. funcionava provisoriamente no superstite foyer do ‘incendiado’ teatro Castro Alves, aberto sobre o Campo Grande, no centro da cidade. O acervo era pequeno: poucos quadros cedidos pelo Museu do Estado, reunidos trabalhosamente por José Valladares, diretor até a morte. A verba reduzida do M.A.M.B. não permitia grandes aquisições, mas conseguimos empréstimos do Museu de Arte de São Paulo, e pudemos com uma planificação certa dos recursos, aumentar a coleção: o Museu chegou a ter uma importante coleção de artistas brasileiros e alguns estrangeiros. Na rampa de acesso ao teatro instalamos um auditório-cinema para conferências, aulas, projeções e debates; nos grandes subterrâneos uma escola de iniciação artística para crianças; a Escola de Teatro e o Seminário Livre de Música da Universidade colaboravam. Com Martin Gonçalves, diretor da Escola de Teatro, montamos, no grande palco semi-destruído, cuja nudez aumentava a dramaticidade, Brecht e Camus: A Ópera de Três Tostões e Calígula. Martin Gonçalves tinha criado, na Escola de Teatro um verdadeiro centro de cultura; esboçava-se na Bahia o movimento do Cinema Novo; Trigueirinho acabava de filmar, nas ruas da cidade, Bahia de Todos os Santos e Glauber começava Barravento nas praias além de Itapoã. No Castro Alves os jovens cineastas construíam, com as próprias mãos os cenários: A Grande Feira, Tocaia no asfalto. Superintendente do Teatro Castro Alves, pensei reconstruí-lo não nos moldes do teatro de “Corte” italiano do século XVIII ou do burguês do século XIX, mas como teatro popular moderno, sem a anacrônica mecanização do palco e com cenas laterais; sem a ‘decoração’ pretensiosa. A reconstrução do teatro obrigava à mudança do Museu. Pensei no conjunto do Unhão, cuja construção data do século XVI, que Martin Gonçalves tinha me mostrado em ’58 quando pensava instalar nele uma dependência da Escola de Teatro. Consegui do Governo do Estado a desapropriação e a verba necessária à restauração, e oito meses depois, março de ’63 o conjunto estava praticamente pronto; nele iriam funcionar o Museu de Arte Popular e as Oficinas do Unhão, centro de documentação de arte popular (não Folclore) e centro de estudos técnicos visando a passagem de um pré-artesanato primitivo à indústria, no quadro do desenvolvimento do país. Em novembro do mesmo ano o Museu inaugurava a I grande exposição de Arte Popular do Nordeste e a exposição Nordeste, coletiva de artes plásticas dos artistas da Bahia, Ceará, Pernambuco, e do Centro de Cultura Popular do Recife. O Museu de Arte Popular do Unhão pertencia ao Museu de Arte Moderna da Bahia e tinha como programa o levantamento do artesanato (pré-artesanato) popular de todo o país.
Mas graves fatos tinham acontecido.
A situação precipitava, o medo da classe dirigente aumentava dia a dia: frente a agressividade dos estudantes, frente à possível explosão das fronteiras da velha cultura acadêmica, cujo fantasma ameaçador era a Universidade de Brasília, frente à alfabetização em massa, praticada, com o sistema Paulo Freire principalmente por estudantes da UNE, frente à pressão de toda a estrutura do país chegado ao máximo de auto-desenvolvimento nos limites da velha estrutura, que necessitava para sobreviver daquelas reformas que a classe privilegiada não queria conceder a preço nenhum.
Na Bahia, com o afastamento e a morte do Reitor Edgar Santos a Universidade tinha parado; a página semanal dos estudantes que o jornal ‘A Tarde’ publicava tinha sido suprimida. Uma violenta campanha de imprensa tinha obrigado Martin Gonçalves a deixar a Bahia; a televisão e os jornais queriam reconstruir o Castro Alves nos velhos moldes (o que aconteceu). O conhecido vulto da reação cultural, das tradições rançosas, da raiva, do medo, apareciam no horizonte.
A VI Região Militar, pouco depois de abril de 1964 ocupava o M.A.M.B. Apresentava a Exposição didática da Subversão. Em frente ao museu os canhões da base de Amaralina.
Cinco anos de trabalho duro, que revelou atitudes, covardias, defecções, velhacarias.
Cinco anos também de esperanças coletivas que não serão canceladas: Walter da Silveira, Glauber Rocha, Martin Gonçalves, Noênio Spinola, Geraldo Sarno, Norberto Salles, Rômulo Almeida, Augusto Silvani, Eron de Alencar, Vivaldo Costa Lima, Sobral, Lívio Xavier, Calazans, o Brennand daqueles dias.
Cinco anos entre os ‘brancos’.