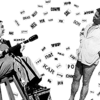Leituras complementares
o que ficou da poesia marginal?
O Que Ficou da Poesia Marginal?
Heloisa Buarque de Holanda
Jornal do Brasil, Caderno B/Especial, 07 de setembro de 1986. 4
Não só a política está interessada em rever os anos do sufoco. A literatura também quer saber se valeu a pena a criação poética dos anos 70
Olha a passarinhada
Onde?
Passou.
CHARLES
A “literatura marginal” escrita nos anos 70 está balizada por duas mortes: a de Torquato Neto (“e vivo tranqüilamente todas as horas do fim”), que marca o melancólico início, e a de Ana Cristina César (“Estou muito concentrada no meu pânico”), que chama a atenção para o gran finale de sua geração.
Avaliada por muitos como o surto da biotônica vitalidade contra a ditadura militar instalada no País, seus poetas praticavam quase sempre um ritual mõrbido em torno dos grandes mortos da contracultura – Jimi Hendrix e Janis Joplin, entre outros – e uma intensa (auto) flagelação, presente desde o confessado uso de drogas até o desprezo paradoxal pela cultura, sobretudo a literária.
A poesia que resultou dos anos loucos é o retrato bem-acabado dessa inanição intelectual. Argumenta-se, hoje, que a repressão não permitiria coisa diferente. Trata-se, contudo, de uma idéia primária: a poesia de Garcia Lorca seria legível em nossos dias, caso sucumbisse em qualidade à ditadura franquista, e detonasse poemas-piadas e impressões instantâneas, como as que compuseram o lugar-comum da poesia marginal? Qualquer ditadura ficaria agradecida com o nível de contestação dos livrinhos vendidos de mão em mão, de reduzidíssimo poder de fogo.
A prática poética da geração 70, além disso, é um elogio ao anacronismo: a maioria dos poemas, seja pela técnica, seja pelo tratamento dispensado ao tema, configura uma imitação detalhada da poesia que se escreveu nos primeiros anos do Modernismo brasileiro (1920 a 1930). Os poemas de Oswald de Andrade, por exemplo, podem ser facilmente confundidos com as anotações dos poetas marginais. Chacal, em “Papo de Índio”, chega ao extremo de repetir a fórmula da Antropofagia:
veiu uns ômi de saia preta
cheiu di caixinha e pó branco
qui eles disserum qui chamava açucri.
aí eles falarum e nós fechamu a cara.
depois eles arrepetirum e nós fechamu o
corpo.
aí eles insistirum e nós comeu eles.
Quando Heloisa Buarque de Hollanda publicou Impressões de Viagem (1980), não desconfiava que seria eleita madrinha dos marginais. Era uma tarefa espinhosa. Deve ser por tudo isso que, retornando de outra viagem, impressionou-se e pediu mais competência à nova geração. Seu livro é uma leitura bem articulada do engajamento político da década de 60 e da dispersão da geração 70, dois momentos que estuda com igual simpatia. É acusado freqüentemente de ser provinciano, por se limitar aos grupos do Rio de Janeiro. Envolvendo-se com teorias que pertencem quase sempre a Benjamin e a Lukács, Heloisa desloca a discussão acerca do literário para o plano da produção intelectual, tentando desfazer o suposto equívoco entre oposição e opção alternativa. Ao que parece, deu preferência a um projeto mais globalizante: “O texto, a produção do livro e a própria vida desburocratizada dos novos poetas sugerem, de maneiras muito parecidas, o descompromisso como resposta à ordem do sistema. “No entanto, torna-se dificílimo contemplar “força subversiva” na prática declarada da ignorância: a defesa do caráter damomentaneidade, da experiência artesanal e do binômio arte/vida pode muito bem condenar uma literatura, ainda que seus “escritores” não se incomodem com críticas à qualidade literária. Nem poderiam: o que eles fizeram foi causar tédio pela vereda florida da falta de intenções. O sucesso de suas teses, no entanto, abriu campo para outros estudos, como o do melhor documentado (mas preso aos rigores acadêmicos) trabalho de Carlos Alberto Pereira, Retrato de Época (1981), amplamente centrado na poesia e com curiosos depoimentos do way of life marginal.
Porém, a simpatia generalizada começou pouco a pouco a declinar, e muitas vezes pelas palavras de antigos companheiros de viagem. Paulo Leminski, cujo depoimento é insuspeito, participou aqui e ali com alguns poemas típicos, mas define com rigor a produção intelectual da época. Em entrevista ao Correio das Artes (8-7-84), de João Pessoa, declarou: “A chamada poesia marginal dos anos 70 é uma poesia, em grande parte ignorante, infanto-juvenil, tecnicamente inferior aos seus antecessores.” Incultos, como faz supor Leminski, leram rápida e confusamente alguma coisa de Nietzsche e os almanaques contraculturais de Herbert Marcuse e Wilhelm Reich, salpicando toda essa salada sexual de zen-budismo e, entenda quem puder, misticismo coloquial.
Se dependesse dos próprios malditos, o que escreveram jamais seria considerado poesia. Assim pensa Cacaso de seu livro Segunda Classe: “É uma coisa inteiramente informal, é um negócio meio repentista assim. A gente estava era curtindo, a verdade é essa.” Francisco Alvim, por sua vez, tinha um desprezo consciente pelo que escrevia. Acerca de seu livro Passatempo, disse: “Ele se escreveu. Não me interessa inclusive a qualidade dele; eu acho que é uma resposta, é uma coisa que eu escrevi na minha vida.” É igualmente curioso observar uma vertente que gostava de agredir o conhecimento livresco em troca de um outro que, como se supunha, aprendia-se nas ruas. Escreveu Charles: “A sabedoria tá mais na rua que/ nos livros em geral/ (essa é a batida mas batendo é que faz render)/ bom é falar bobage e jogar pelada/ um exercício contra a genialidade.” Eles conseguiram! O próprio Charles, por exemplo, escreveu poemas que não poderiam ser mais lúcidos e que retratam bem o que acontecia na rua:
HORA ILUMINADA
mastigando uma pera
de bobera
às três em ponto.
Por mais que o poema “Suspiro”, de Francisco Alvim, se resuma ao verso “A vida é um adeuzinho”, quem será capaz de decorá-lo? Por mais que Chacal insista em procurar “na beira de um calipso neurótico / um orfeu fudido”, ele só encontrará algo bem pior, ou seja, um poeta que escreveu versos como “doce dulce dá-se dócil”.
Naquela década, contudo, a poesia estava sendo salva pela estréia salutar de Adélia Prado, pela laboriosa anarquia de Roberto Piva, e ainda por Antônio Carlos Sacchin e Armando Freitas Filho. São nomes pinçados de um profundíssimo caldeirão de poetas que entornou bons e maus versos. José Paulo Paes, que cultivou o epigrama irônico, é uma bela demonstração de como a síntese não é necessariamente a indigência poética de quem pensa que hai-cai é o garrancho abandonado nas paredes dos mictórios. Num levantamento sumário, o ex-poeta engajado Moacyr Félix arrolou um número monstruoso de poetas estrelados na década de 70, que hoje ninguém sabe por onde andam e o que escrevem. É preciso citar, inda, alguns nomes que não permitiram fazer da década um imenso deserto cujas areias terminam onde começam as de Ipanema. Do oásis plantado por alguns bons livros, que dissiparam as fumaças das dunas baratas, ressalte-se que os anos 70 serviram para consolidar a literatura escrita por mulheres como Olga Savary, Miriam Fraga, Hilda Hilst e Laís Correa de Araújo, entre outras.
O poema mais significativo dos anos 70 não foi escrito por nenhum poeta do desbunde ou outro qualquer que tenha perdido o bonde, mas por um poeta exilado. Com Poema Sujo (1977), Ferreira Gullar elevou a um só tempo a poesia engajada a poesia memorialística e as técnicas mais modernas do verso.
Hoje, quase todos os poetas marginais já têm obra completa publicada – comparecendo com uma poesia extremamente datada. Embora vulgar, o argumento de que o “vazio cultural” dos anos 70 causou a aparição de uma poesia oca precisa ser considerado, ao menos por definir uma produção já envelhecida. A melhor contribuição daqueles poetas depositou-se nas letras de música popular e em roteiros para filmes ou programas de televisão, formas que escapam à pequenez das edições mimeografadas, embora caiam no circuito outrora execrado. Waly Salomão é exemplo de escritor que adaptou-se bem às letras de música, bastante superior à sua prosa. De resto, sua formação cultural é bem mais sofisticada do que a de qualquer outro brincalhão do circo das letras.
Ninguém vive bem em tempos políticos difíceis, ainda mais na companhia de poemas intragáveis. Há coisas constrangedoras como esta:
Tenho pena dos pobres, dos aleijados, dos
velhos
Tenho pena do louco Neco Vicente
E da Lua sozinha no céu
que, embora assemelhe-se aos poetas da lavra
marginal, pertence a Jorge de Lima – com
uma ressalva, porém: quando a escreveu, ele
tinha apenas 9 anos de idade. Freud afirmava
que toda criança é um perverso polimorfo – e
deve estar certo, pois pelo menos em poesia as
infâncias se confundem.
(Felipe Fortuna, poeta e ensaísta, publicará em breve seu livro de poemas Ou Vice-Versa. Ainda não tem geração.)