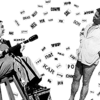Leituras complementares
parangolés
Parangolés
Antonio Cícero
Hélio Oiticica chamava o Parangolé de “antiarte por excelência”.2 Trata–se de uma espécie de capa (lembra ainda bandeira, estandarte, tenda) que não desfralda plenamente seus tons, cores, formas, texturas, grafismos ou as impregnações dos seus suportes materiais (pano, borracha, tinta, papel, vidro, cola, plástico, corda, esteira) senão a partir dos movimentos — da dança — de alguém que a vista. O Parangolé foi descoberto (é a palavra que Hélio emprega) em 1964. Muita coisa tem sido dita sobre esse estranho objeto e em particular as palavras de Waly Salomão são admiráveis: “O primeiro Parangolé foi calcado na visão de um paria da família humana que transformava o lixo que catava nas ruas num conglomerado de pertences”. 3Quero porém observar o Parangolé em primeiro lugar como parte do processo brasileiro de radicalização do construtivismo.
Contra o clichê que, tomando o homem tropical — logo, o brasileiro — como um escravo da natureza circunstante, dos vícios ou das paixões que sofre, o reduz à passividade, pode dizer-se, com Hélio Oiticica, que “uma vontade construtiva geral” constitui a primeira característica da arte brasileira de vanguarda. Não é retrospectivo, é visionariamente prospectivo e febrilmente racional o olhar do país que projetou e construiu Brasília. O Brasil se concebe como o verdadeiro crisol em que os dados naturais ou artificiais, raciais ou culturais se mediatizam, fundem e refundem criativamente. Nessa experiência, que nos impele a ser o “país do futuro”, segundo a famosa expressão de Stefan Zweig, se encontra nossa paradoxal distinção, isto é, nossa força.

Foi sem dúvida em virtude de um olhar voltado para o futuro que, na 1a Bienal de São Paulo, em 1951, a peça Unidade Tripartida, do artista concretista suíço Max Bill, causou grande impacto em alguns jovens artistas brasileiros, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Como se sabe, os concretistas rejeitam radicalmente todo ilusionismo e alusionismo. Chamam a sua arte de “concreta” e não “abstrata” justamente porque, nas palavras de Theo Doesburg, “nada é mais real do que uma linha, uma cor, uma superfície… Uma mulher, uma árvore, uma vaca são concretas no estado natural, mas no estado de pintura são abstratos, ilusórios, vagos, especulativos, ao passo que um plano é um plano, uma linha é uma linha, nem mais nem menos”.4 Contra o ilusionismo/alusionismo, não só a pintura concreta mas toda pintura construtiva se desfizera, desde a primeira metade do século, tanto da perspectiva quanto da cor natural. A superfície não almejava mais que suas duas dimensões reais. O quadro, que já não se abria mais feito uma janela para outras coisas, não pretendia representar mais nada. Ele simplesmente se apresentava. Conservava, contudo, a forma de uma janela e o enquadramento ainda evocava o espaço virtual5 da representação.
Abramos um parêntese. Se tomamos o construtivismo como a disposição de, num primeiro momento, decompor radicalmente “o conteúdo representacional e os limites técnico-formais”6 das artes plásticas, descobrindo, por assim dizer, os elementos puros com os quais, num segundo momento, poder-se-á proceder à re-construção do mundo, entendemos que, fugindo ao naturalismo, ele pode se valer da fenomenologia na tentativa de reconstituição da experiência elementar pré-reflexiva ou mesmo antepredicativa. Assim, para Merleau-Ponty, “a linguagem da pintura não é instituída pela natureza: está por fazer-se e refazer-se”.7 É o que permite a Hélio Oiticica pensar em “transformar o que há de imediato na vivência cotidiana em não-imediato; eliminar toda relação de representação e conceituação que porventura haja carregado em si a arte”.8 Ou seja: a epoché fenomenológica permite pensar com um novo rigor não-cientificista a radicalização do espírito originariamente construtivo que, recusando qualquer noção tradicional, pretende reconduzir a arte ao ponto zero. Hélio diz, com razão, serem construtivos “os artistas que fundam novas relações estruturais, na pintura (cor) e na escultura, e abrem novos sentidos de espaço e tempo”.9 O preço disso, porém, não pôde deixar de ser o rompimento com a letra do concretismo que, naquela época, parecia pretender transformar a figura tradicional do artista na do projetista e, positivisticamente recusando o que considerava como o mito do artista, se orientava para a imagem dodesigner, do profissional do desenho industrial. Tal rompimento foi a opção feita por alguns artistas cariocas que chamavam sua arte de neoconcreta.
Pois bem, esses artistas, em particular Lygia Clark, Hélio Oiticica e Lygia Pape, que privilegiavam a experimentação e a pesquisa da linguagem plástica — características do construtivismo autêntico — realizam pinturas que dispensam o enquadramento e o espaço virtual que, com isso, se revelam como convenções tradicionais, isto é, como preconceitos. O quadro não é necessário para que se dê a pintura pura. Deve-se frisar que nenhum dos três abandona o quadro num gesto contra a pintura, mas, ao contrário, por radicalizar a exigência da imanência da pintura. Ou seja, para eles, a pintura em si dispensa o enquadramento e o espaço da representação. Hélio diz que o fim do quadro, “longe de ser a morte da pintura, é a sua salvação, pois a morte mesmo seria a continuação do quadro como tal, e como ‘suporte’ da pintura… A pintura teria que sair para o espaço”.10 Podemos acrescentar que, na medida em que, para Hélio, a pintura caracteriza-se principalmente pela cor, ela dispensa tanto o quadro quanto a composição. Hélio chama agora o que faz de “estruturas-cor no espaço e no tempo”:11 “a chegada à cor única, ao puro espaço, ao cerne do quadro, me conduziu ao próprio espaço tridimensional… Já não quero o suporte do quadro, um campo a priori onde se desenvolva o ‘ato de pintar’, mas que a própria estrutura desse ato se dê no espaço e no tempo… Dessa nova posição e atitude foi que nasceram os núcleos e os penetráveis”.12 Sobre o Penetrável, diz ele que “abre novas possibilidades ainda não exploradas dentro desse desenvolvimento, a que se pode chamarconstrutivo, da arte contemporânea”.13
Assim também, o Parangolé tem o efeito de “liberar a pintura dos seus antigos liames”. Mas a pintura do Parangolé já não é só — nem principalmente — pintura. Trata-se de algo que, em determinado momento, Hélio descreveu através da mesma expressão que empregava para conceituar os Bólides: “transobjeto”. O transobjeto é feito com as mais diversas técnicas, dos mais diversos materiais (plásticos, panos, esteiras, telas, cordas etc.) que, no entanto, parecem se esquecer do sentido de suas individualidades originais ao se refundirem na totalidade da obra. Mais importante: o Parangolé não pode ser exposto como uma pintura convencional. Ele deve ser não apenas visto mas tocado: e não apenas tocado mas vestido. O corpo compõe com o Parangolé que veste uma unidade sempre nova. “O ato de vestir a obra já implica uma transmutação expressivo-corporal do espectador, característica primordial da dança, sua primeira condição”.14 A dança de quem veste o Parangolé não apenas o revela ao espectador que o não veste mas principalmente ao dançarino mesmo que, nesse processo, se revela a si próprio. O Parangolé em si constitui o começo e o fim do círculo, a partir do qual o corpo se faz obra e o dançarino, espectador. Talvez possamos dizer que, quando alguém veste um Parangolé, compõe com ele um novo transobjeto. Assim, oriundo da pintura — e em nome da pintura — o Parangolé rompe com a pintura. Trata-se mesmo, uma vez que extrapola do âmbito da visibilidade para o da tactibilidade, de uma antipintura. Nem o seu modo de produção nem o seu modo de exposição nem o seu modo de fruição pertence a qualquer das belas artes tradicionais.
Em que sentido, então, pode-se afirmar que o Parangolé seja “antiarte”? É sem dúvida correto assim caracterizá-lo precisamente nos dois sentidos em que acabamos de chamá-lo de “antipintura”. Em primeiro lugar, no sentido de que não pertence a nenhuma das artes tradicionais. Em segundo lugar, no sentido de que somente pode ser fruído enquanto compõe com o próprio fruidor um novo transobjeto, o que não ocorre nas obras plásticas tradicionais. Nesses sentidos, porém, a antiarte não passa de uma forma não-convencional de obra de arte. Entretanto, a palavra “antiarte” pode ter um terceiro — e mais forte — sentido, em que se relaciona com a expectativa do fim da arte ou do fim da obra de arte. Eu mesmo já cedi à tentação de considerar o Parangolé como antiarte nesse terceiro sentido. Penso, porém, que estava então enganado. Embora não se atualize plenamente senão quando vestido por alguém que com ele dance, o Parangolé não deixa de ser obra. Ele não consiste em roupa ou adereço, que sirva para agasalhar, cobrir, expressar ou enfeitar quem o usa; nem em fantasia, que sirva para disfarçar/expor seu usuário. O Parangolé não serve para nada; é quem o usa que serve para revelá-lo. Em outras palavras, ele não é simplesmente mediatizado por quem o veste. Quem o veste pode senti-lo até como um brinquedo, um desafio ou um trambolho, mas em momento algum se acostuma com ele ou se esquece de que ele possui a distinção de uma identidade própria, caprichosa, irredutível. O Parangolé não é confortável. Dança-se com ele, mas é ele quem guia a dança. Ele é o anti-instrumento. Trata-se, portanto, de algo que, sem pertencer mais ao âmbito da pintura, onde se originou, recusa-se a abandonar o âmbito da arte e se afirma irredutivelmente como obra. Na década de sessenta, o poeta Ferreira Gullar, um dos teóricos do movimento neoconcreto, propôs a Hélio “uma exposição para destruir tudo, uma exposição com hora marcada, começando às 17 e terminando às 18 horas. A proposta era colocar um dispositivo explosivo dentro das obras. O pessoal vê as obras, quando chegar às 18 horas a gente pede pra sair todo mundo pois a exposição vai acabar, e detona a exposição… Hélio respondeu simplesmente: “eu não vou destruir minhas obras”.15 Lembro-me da afirmação de Hegel de que “o homem, na medida em que quer ser efetivo, tem que existir e, para isso, deve limitar-se. Quem tem demasiado desprezo pelo finito não chega à efetividade alguma, permanece no abstrato e consome-se a si próprio.”16 Em meio ao turbilhão, Hélio permanece artista e, no limite, reafirma a diferença entre obra e vida, condição necessária do mundo.
Na verdade, talvez o mais impressionante em Hélio Oiticica é que, tendo metodicamente provocado e experimentado o caos da quebra das categorias, tenha sido capaz de se tornar o parteiro de uma obra mundificadora, isto é, de uma obra que, patentemente, abre um novo e claro cosmo. Metaesquemas, Bólides, Penetráveis, Ninhos, Barracões, Cosmococas, Quasi-Cinemas, Parangolés etc. são elementos numinosos que, embora possam fazer parte do plano do Éden, resultam de um processo de decantação crítica do mundo real, de onde manifestamente provêm. Hélio diz ter descoberto a dança “por uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual,… de livre expressão”; e completa: “seria o passo definitivo para a procura do mito, uma retomada desse mito e uma nova fundação dele na minha arte”.17 Na Grécia de Homero, mythos, como épos, quer dizer palavra. Mas enquanto épos quer dizer o significante memorizado ou guardado — seja um único vocábulo, seja um poema longo como a Odisséia — mythos quer dizer a palavra que não se guarda, a palavra que se esquece, a palavra que escapa e se perde: e também quer dizer significado. O poeta é aquele que faz épe, significantes, formas. Ora, tanto a palavra “Parangolé” quanto o objeto Parangolé são significantes ou épe. O seu significado oumythos é a dança que o Parangolé provoca, o “ato expressivo direto” que nos remete, por exemplo, a Mangueira ou a Jimmy Hendrix ou sabe-se lá a quê. O Parangolé encontra o mito porque é épico. Assim como a diferença entre obra e vida, a diferença entre épos e mythos fende o ser para inaugurarar um mundo. Por outro lado, o Parangolé e a dança mítica do Parangolé ou, o que dá no mesmo, o mito dessa dança, tomada como “o ato plástico em sua crudeza essencial”, reúne dois continentes que, no Ocidente, se haviam separado desde a Grécia arcaica: o das artes expressivas, compreendendo originalmente a própria dança, a música e a poesia, e o das artes plásticas, compreendendo a arquitetura, a escultura e a pintura. Também os gregos arcaicos consideravam a dança como a mais importante de todas as artes. Mas enquanto os gregos presenciavam o começo da diáspora das artes, o fim dela é que é antecipado pelo descobridor do Parangolé.