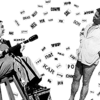Leituras complementares
da jovem guarda a joão gilberto
Da Jovem Guarda a João Gilberto
Augusto de Campos
Extraído de Balanço da bossa e outras bossas, Editora Perspectiva, 1993
Publicado originalmente em 1966
Já se tentou encontrar mais de uma explicação para o súbito decréscimo de interesse do público pela música popular brasileira e o concomitante ascenso vertiginoso do iê-iê-iê entre nós. O termômetro dessa variação se situa em São Paulo nos dois programas de televisão, “O Fino” (ex “da Bossa”), comandado por Elis Regina, e “Jovem Guarda”, tendo à frente Roberto Carlos. Apesar do que se tem propalado, não há luta declarada entre os dois programas, assim como não há hostilidade visível entre o “Fino” e o “Bossaudade” (reduto da “velha guarda”), o terceiro programa a considerar dentre todos os que a TV Record de São Paulo reuniu num verdadeiro pool dos melhores cantores da praça. Os participantes desses programas se respeitam, se visitam uma vez ou outra e dialogam, pelo menos aparentemente, num adorável fair play. Mas é evidente que há entre a “velha guarda” da “bossa-nova” e a “jovem guarda” uma espécie de competição natural, amigável quando o denominador comum é a música “nacional” e apenas cordial quando a competição se dá entre música “nacional” (tradicional ou nova) e música presumidamente “importada” ou “traduzida”, embora possam ocorrer casos de intercomunicação, como o do cantor e compositor Jorge Ben, que se passou do “Fino” para a “Jovem Guarda”, do samba-maracatu para o “samba-jovem” (“Chorava todo mundo”, “Aleluia”), e conseguiu ser “bidu”, “lenheiro”, ou seja, um dos maiores sucessos do programa de Roberto Carlos; por mais que o seu “iê-iê-iemanjá” desagrade aos puritanos da música nacional, que querem ver no chamado “samba-jovem” um crime de lesa-samba, a verdade é que Jorge Ben deglutiu o iê-iê-iê à sua maneira, sem trair-se a si próprio, e a prova é que o seu “Chorava todo mundo” já era um sucesso do “Fino” antes de ser “uma brasa” da “Jovem Guarda”.
Tem-se afirmado que a música popular brasileira caiu um pouco por inércia de compositores e intérpretes, que teriam dormido sobre os louros da vitória depois da campanha triunfal do “Fino”, programa que se tornou o porta-voz da música nova brasileira, assumindo de maneira programática, com a necessária sustentação financeira e a amplitude da televisão, o papel dos espetáculos que o conhecido disc-jockeyWalter Silva promoveu, pioneiramente, no Teatro Paramount em São Paulo. Outras explicações: a viagem de Elis e do Zimbo Trio para a Europa, desfalcando por algum tempo a equipe lideradora do “Fino”. As férias escolares, que teriam afastado dos festivais e programas de música popular brasileira a juventude universitária. De fato, se a jovem guarda, ou pelo menos alguns dos seus sucessos, como o “Quero que vá tudo pro inferno”, que deu voz a um estado de espírito geral na atualidade brasileira, conseguem comunicar-se a gente de todas as idades, é inegável que o seu auditório básico é constituído pelo público infanto-juvenil. O ambiente universitário com sua problemática menos disponível, coincidindo com a maior maturidade intelectual do jovem, é muito mais permeável ao influxo da bossa-nova, a música popular mais exigente e sofisticada que se faz no Brasil. Mas tudo isso, ou nada disso me faz acreditar que o problema possa ser resolvido apenas com uma análise episódica dos fatos. O decréscimo de interesse, não só do público em geral, mas dos aficionados da música popular brasileira, de todos aqueles que acompanharam sua renovação, a partir do espetacular “salto qualitativo” da BN, em consonância com a renovação da arte brasileira em todos os seus campos, da arquitetura à poesia concreta, não se explica unicamente por questões miúdas de liderança ou de inércia. Tem raízes estruturais, internas, que importam numa momentânea queda de padrão, e que precisam ser analisadas com objetividade, ao lado dos fatores externos.
Um dos aspectos que, parece-me, não foram ainda devidamente examinados é o das alterações do comportamento musical que vem sofrendo o movimento da BN desde que passou a ter um contato mais amplo com o público, via TV, ou seja, via o maior meio de comunicação de massa dos tempos modernos (pesquisas realizadas pelo IBOPE, no ano passado, revelaram que em São Paulo existem mais de 600.000 unidades familiares com aparelhos de TV, o que dá à Televisão, considerada a média de 3 assistentes por aparelho, uma “tiragem” diária de 1 milhão e oitocentas mil pessoas). Dentre as características revolucionárias da BN, uma das mais essenciais foi o seu estilo interpretativo, decididamente antioperístico. João Gilberto e depois dele tanto outros – na esteira, é verdade, de uma tradição detectável na velha guarda (Noel Rosa, Mário Reis) – adotaram um tipo de interpretação discreta e direta, quase-falada, que se opunha de todo em todo aos estertores sentimentais do bolero e aos campeonatos de agudos vocais – ao bel canto em suma, que desde muito impregnou a música popular ocidental. Além das razões de ordem estética (o exibicionismo operístico leva à criação de zonas infuncionais e decorativas na estrutura melódica), a própria evolução dos meios eletroacústicos, tornando desnecessário o esforço físico da voz para a comunicação com o público, induziria a essa revolução dos padrões de conduta interpretativa. E foi ela, ao lado das novas e inusuais linhas melódicas e harmônicas da BN, a responsável pelo mal-entendido de que cantores superafinados como João Gilberto não tinham voz ou eram “desafinados”, tema glosado por Newton Mendonça numa das mais importantes letras-manifesto do movimento. Esse estilo, entretanto, pela própria virada de 180º que representava no estágio da música brasileira, não era facilmente comunicável. Mesmo depois do sucesso extraordinário nos E.U.A., o número de consumidores da BN continuou reduzido, embora esta já tivesse consolidada a sua posição, a princípio tão negada e combatida inclusive pela maioria dos remanescentes da velha guarda (intérpretes e críticos).
Foi nesse enclave ou ameaça de estacionamento comunicativo que apareceu um fato novo em matéria de interpretação no campo da música nova. Elis Regina, revelada pelo 1º Festival de Música Popular Brasileira, promovido pelo Canal 9, de São Paulo, e que, pouco depois, passaria a liderar como cantora e apresentadora o programa “O Fino”, então “da Bossa”. Elis, a Pimentinha, como foi afetuosamente apelidada, teve, realmente, um grande mérito no sentido da popularização da BN, nessa fase decisiva de sobrevivência. Suas interpretações elétricas e eletrizantes, a alegria contagiosa que transmitia, não tanto com a sua voz (que nada tem de excepcional), mas com um compósito de voz e corpo, canto e coreografia articulados numa alegria juvenil e irresistível, explodiram como verdadeira bomba no samba, com um alto poder de comunicação. A ponto de muitos acreditarem numa possível reedição do fenômeno Carmen Miranda. Em Jair Rodrigues, samba & simpatia no balanço crioulo natural, Elis encontrou o companheiro ideal para uma dupla que ficaria famosa. Jair, que vinha de uma experiência isolada de samba-falado gesticular (“Deixa que digam” etc.), foi “convertido” por Elis, passando a incluir música moderna em seu repertório.
Elis extroverteu a BN, desencravou-a, tirou-a do âmbito restrito da música de câmara e colocou-a no palco-auditório de TV. Mas com o tempo, talvez pelo afã de ampliar o público, o programa foi-se tornando cada vez mais eclético, foi deixando de ser o porta-voz da BN para se converter numa antologia mais ou menos indiferente dos hits da música popular brasileira, com risco de passar mesmo de “fino da bossa” ao simplesmente “fino”. Por seu turno, a própria Elis foi sendo levada a uma exageração do estilo interpretativo que criara. Seus gestos foram-se tornando cada vez mais hieráticos. Os rictos faciais foram introduzidos com freqüência sempre mais acentuada. A gesticulação, de expressiva passou a ser francamente expressionista, incluindo, à maneira de certos cantores norte-americanos, movimentos de regência musical, indicativos de paradas ou entradas dos conjuntos acompanhantes, ou ainda sublinhando imitativamente passagens da letra da música, numa ênfase quase-declamatória. A alegria já contagia menos e por vezes não ultrapassa as paredes do autojúbilo. Ao interpretar “Zambi”, a cantora parece entrar em transe. É uma interpretação rígida, enfática, de efeitos melodramáticos (inclusive jogos fáceis de iluminação cênica). Esse estilo de interpretação “teatral” quase nada mais tem a ver com o estilo de canto típico da BN.
Enquanto isso, jovem-guardistas como Roberto ou Éramos Carlos cantam descontraídos, com uma espantosa naturalidade, um à vontade total. Não se entregam a expressionismos interpretativos; ao contrário, seu estilo é claro, despojado. Apesar do iê-iê-iê ser música rítmica e animada, e ainda que os recursos vocais, principalmente de Erasmo, sejam muito restritos, estão os dois Carlos, como padrão de uso da voz, mais próximos da interpretação de João Gilberto do que Elis e muitos outros cantores de música nacional moderna, por mais que isso possa parecer paradoxal. Ainda há pouco, Wanderléia, ídolo feminino da JG, comparecendo, como convidada, ao “Fino”, cantou em dupla com Simonal o “Vivo sonhando”, de Jobim (repertório de João e Astrud Gilberto), em autêntico estilo BN. Além dessas características vocais, que parecem estar sintonizadas com o padrão interpretativo da BN e que dão à nossa jovem guarda uma certa nota brasileira, podem ainda os seus cantores incorporar o ruído e o som desarticulado, propendendo para a anti-música, revolução saudável que já tem maiores pontos em contato com o iê-iê-iê internacional (Beatles etc.).
Se é certo que a BN é um movimento musical mais complexo e de conseqüências sem dúvida muito mais profundas, não se pode deixar de reconhecer que a JG, com todas as suas limitações e o seu primarismo, nos ensina uma lição. Não se trata apenas de um problema de moda e de propaganda. Como excelentes “tradutores” que são de um estilo internacional de música popular, Roberto e Erasmo Carlos souberam degluti-lo e contribuir com algo mais: parecem ter logrado conciliar o mass-appeal com um uso funcional e moderno da voz. Chegaram, assim, nesse momento, a ser os veiculadores da “informação nova” em matéria de música popular, apanhando a BN desprevenida, numa fase de aparente ecletismo, ou seja, de diluição e descaracterização de si mesma, numa fase até de regresso, pois é indubitável que a “teatralização” da linguagem musical (correspondendo a certas incursões compositivas no gênero épico-folclórico) se vincula às técnicas do malsinado bel canto de que a BN parecia nos ter livrado para sempre. Entendam-se. Não estou insinuando que uma cantora do tipo de Elis Regina deva cantar ao modo de João Gilberto. E se ela parece ser o alvo preferido deste comentário (que pretende ser construtivo) é precisamente por se lhe reconhecer um papel importante e influenciador na veiculação da nossa música nova. Que Elis continue Elis e seja feliz (e todos nós com ela). Mas sem o make-up teatral de que ela não precisa, nem a nossa música, para prevalecer.
A riqueza da BN está também em suas diferenciações internas. Ao lado da linha sóbria de João Gilberto e das cantoras-cool, como Nara Leão e Astrud Gilberto, ou a mais balançada Claudete Soares, sempre houve a linha da variação e da improvisação (Johnny Alf, Leny Andrade, Simonal). E na medida em que estes últimos cantores conseguem utilizar a voz como instrumento e não como mero artifício virtuosístico (às vezes é difícil distinguir), enquadram-se na linha bossa-novista. Também o clima “intimista” ou “participante” não influi decisivamente no estilo. Nara Leão, Carlos Lira, Edu Lobo ou Chico Buarque (como intérpretes), e mesmo o Geraldo Vandré de “Canção nordestina”, não fogem a uma fundamental enxutez interpretativa, característica da BN. E a própria música popular nordestina, cuja influência se tem feito sentir mais recentemente nos caminhos da BN, não está alheia a essa problemática. Berimbau X violino, carcará X rouxinol, a dura aspereza do Nordeste encontra a doce secura da bossa citadina e com ela se harmoniza naturalmente. Do “lobo bobo” ao “carcará” a música nova parece ter uma constante da qual não pode e não deve fugir, sob pena de perder muito de sua força e agressividade. Essa constante poderia ser definida com palavras de João Cabral de Melo Neto, em seu poema “A Palo Seco”. Como diz Cabral, “se diza palo seco / o cante sem guitarra / o cante sem; o cante; / o cante sem mais nada”. Depois dessa definição e de alguns exemplos (“A palo seco cantam / a bigorna e o martelo, / o ferro sobre a pedra, / o ferro contra o ferro” etc.), o poeta nos convida a retirar deles esta higiene ou conselho, que me parecem válidos tanto para a poesia nova como para a nossa nova música: “não o de aceitar o seco / por resignadamente, / mas de empregar o sexo / porque é mais contundente”.
É assim que a análise de certas características musicais da JG (jovem guarda) nos faz remontar à inteireza e à precisão de JG (João Gilberto). E estou me lembrando agora da conduta exemplar desse outro grande João no festival de Carnegie Hall, em 1962. Enquanto outros cantores brasileiros, lá presentes, se desmandavam em trejeitos e ademanes “para americano ver”, João, na sua vez, pediu simplesmente uma cadeira, sentou-se com seu violão, em meio a uma floresta de microfones, experimentou o som e mandou a sua música de sempre, sem alterar uma vírgula. E foi dessa maneira, sem concessão alguma, com seu “cante a palo seco”, seu “cante desarmado: / só a lâmina da voz, / sem a arma do braço”, que esse “João de nada” fez tudo: ensinou voz e música ao mundo. Quaisquer que sejam as novas direções da nossa música nova, não nos esqueçamos da lição de João.