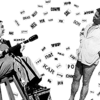Eubioticamente atraídos

conversa com caetano
Verbo tropicalista
Conversa com Caetano Veloso
Intervenções de Augusto de Campos e Gilberto Gil
Extraído de Balanço da bossa e outras bossas,
Editora Perspectiva, 1993
Publicado originalmente em 6 de abril de 1968
AC – Você acha possível, Caetano, conciliar a necessidade de comunicação imediata (tendo em vista as grandes massas) com as inovações musicais?
CV – Acredito que a necessidade de comunicação com as grandes massas seja responsável, ela mesma, por inovações musicais. O rádio, a TV, o disco, criaram, sem dúvida, uma nova música: impondo-se como novos meios técnicos para a produção de música, nascidos por e para um processo novo de comunicação, exigiram/possibilitaram novas expressões. Esse novo processo de comunicação é presa de um esquema maior (as leis estéticas que comandam a produção musical em rádio, disco e TV nascem de necessidades comerciais, respeitos oficiais-estatais, compromissos morais etc. etc.) que representa, muitas vezes, um entrave à inovação (inovar, no sentido de ampliar o campo do conhecimento através de uma forma de arte). Livre do patrocinador, do censor, do compromisso com a mediocridade das massas, o “pesquisador puro” é que irá dar saltos ousados; não sem risco, entretanto, de cair no vazio. Ou seja: de um lado, a Música, violentada por um processo novo de comunicação, faz-se nova e forte, mas escrava; de outro, a Música, resguardada. Assim, se poderia pensar que o rádio, a TV, o disco, como meios de comunicação, teriam transformado a própria forma das artes por eles divulgadas, mas que esses meios, com toda a força que eles tinham, trariam em si mesmos o freio às inovações. Creio, porém, que a possibilidade do meio novo exigir a forma nova não está esgotada. Que o processo não parou. Que o conflito permanece vivo porque os novos meios de comunicação continuam a funcionar como freio e como novo. Por exemplo: os Beatles romperam esse mecanismo, mas só o conseguiram através do poder adquirido através do disco. Eles deram uma virada que eu mesmo não sei onde vai dar. Você ouviu o disco do Jimi Hendrix, Experience? Está em 1° lugar nas paradas de vendas dos E.U.A. e da Inglaterra. É um disco dificílimo, lindíssimo. É mais difícil que os Beatles. É inovador. É riquíssimo, inclusive poeticamente. O disco é todo ele de experiências com sons de guitarra. É uma música negra, improvisada, como o jazz, mas muito próxima da música eletrônica. Com uma noção fantástica de estrutura. Jimi é guitarrista e faz as letras de suas músicas. Além disso, ele canta atrás desses sons que ele e o baixo tiram da guitarra, em primeiro plano. E isso que ele canta e você quase não ouve são letras excelentes e difíceis. Eu tenho a impressão de que tudo isso penetrou um pouco como exigência de que se faça a novidade.
GG – – A novidade passou a ser um dado da exigência do mercado. . .
CV – ….e isso possibilita que o novo aconteça como música.
AC – Que interesses musicais, literários ou artísticos têm influído na formação do seu estilo de compor (música e letra)?
CV – Nunca ouço música erudita, a não ser casualmente. Mas a música de rádio sempre me apaixonou. As canções. A bossa nova (João Gilberto) levou-me a compor e cantar, a me interessar pela modernização da música brasileira. Mas esse interesse estava incluído no fascínio que exercia sobre mim a descoberta de um Brasil culturalmente novo: eu lia a revista Senhor encantado; acompanhava o nascimento do “cinema novo” (lia todos os artigos de Glauber Rocha e cheguei, ainda secundarista, a publicar alguns escritos sobre cinema), descobri, assombrado, Clarice Lispector, depois, Guimarães Rosa e, por fim, João Cabral de Melo Neto, cujos poemas li quase tantas vezes quantas ouvi os discos de João Gilberto; redescobri Caymmi e persegui a “plasticidade” sonora que encontrava em suas canções; ouvi jazz, principalmente cantores (Billie Holidav e os blues tradicionais me encantaram mais que o Modern Jazz Quartet, e David Brubeck me enfastiava); enfim, eu queria estar vivo no seio de um país jovem, entre jovens corajosos e criadores, eu gostava das maquetes de Brasília, de escrever a palavra estória com “e” e de ver textos impressos em letras minúsculas. De minha parte, tentava fazer uma poesia como a de Lorca, partindo dos sambas de roda de Santo Amaro, tratando-os à maneira de Caymmi, revisto por João Gilberto. Não descuidava, entretanto, de continuar ouvindo tudo que saía no rádio: sei até hoje muitos boleros de Orlando Dias, Anísio Silva, sambas-canções de Adelino Moreira e rocks americanos cantados em português por Celly Campelo… Me interessava a linha da esquerda universitária. Mas sou muito desorganizado e não sou estudioso. Li Sartre, Questão de Método, sem nunca ter lido um só texto de Marx ou mesmo da literatura de divulgação que foi feita sobre o marxismo, exceto alguns artigos de Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder publicados na Revista Civilização. Me interessava “em geral” pelo clima de criatividade que eu sentia em torno de mim. Via a música nova de João dentro dessas coisas. E assim me envolvi em toda essa paixão que nasceu com a BN. Quero dizer que nunca me considerei um bom músico. Acreditava ser um bom incentivador/orientador dos meus colegas. Esperava poder fazer boas letras também. Quando cheguei ao Rio eu compartilhava de uma posição que se resguardara. Aos poucos fui compreendendo que tudo aquilo que gerou a BN terminou por ser uma coisa resguardada, por não ser mais uma coragem. Todos nós vivíamos num meio pequeno, numa espécie de Ipanema nacional. Mas é claro que João Gilberto é outra coisa. Acho os discos de João um negócio sensacional até hoje, incluindo mil coisas que a gente tem de lutar ainda agora para que as pessoas aceitem sem medo. Por exemplo: “Oba-lá-lá” mistura beguin com samba. Em “Bim Bom”, que o João chama de baião, Jobim faz uma citação de “El Manicero”.
GG – – Inclusive o baião tinha, naquela época, a mesma maldição que o iê-iê-iê tem hoje.
CV – Sim, havia gente que, na época de Luís Gonzaga, considerava o baião uma espécie de sujeira. Mas acontece que a mesma paixão que fez com que nós nos ligássemos, num primeiro momento, a umas tantas coisas e a uns tantos preconceitos, fez também com que nos desligássemos deles.
GG – – Ambicionávamos uma liberdade que a gente não conseguia exercitar plenamente naquela época e que hoje a gente aprendeu a usar de uma forma mais livre.
AC – Em suma, houve um momento inicial da BN em que ela corporificava isso que o Gil chama de “exercício da liberdade”. Mas depois de um certo tempo, na medida em que a BN se institucionalizou e adquiriu uma aura de “seriedade”, ela começou a estancar essa liberdade.
CV – Exato. E quando no Rio eu comecei a me enfastiar com o resguardo em seriedade da BN, o medo, a impotência, tendo tornado a BN justamente o contrário do que ela era, as coisas menos sérias começaram a me atrair. E a primeira dessas coisas foi a que mais assustaria os meus colegas de resguardo: o iê-iê-iê. Passei a olhá-lo de outra forma, apesar de que, meio curioso e desconfiado, eu nunca deixara de ouvir e de aprender as músicas da jovem guarda, mesmo sem saber bem pra quê. Isso também aconteceu – mais ou menos ao mesmo tempo, com todos nós.
GG – – Mas muito sob a sua instigação, você trazendo essas coisas para a gente discutir…
CV – Mas você, em compensação, mesmo sem estar muito preocupado em saber o significado dessas músicas em termos de composição, pegando essas coisas na rua e trazendo pra casa. E Bethânia, que falava muito comigo, mesmo antes: – Você está por fora. Veja o programa do Roberto Carlos. Ele é que é forte. O resto está ficando um negócio chato, tão chato que eu prefiro então cantar músicas antigas. Foi mais ou menos aí; há 2 anos que eu fiz “Paisagem útil”, que parece um corolário, mas é propriamente uma precursão de “Alegria, alegria”, o primeiro novo industrial.
AC – Isso que aconteceu com vocês é mais ou menos simétrico ao que ocorreu com os nossos músicos eruditos de vanguarda. Aquilo que foi e é o João Gilberto para vocês é o Webern para a música erudita moderna. Foi chegando um momento em que o estilo serial pontilhista pós-weberniano, antes altamente informativo, foi-se tornando redudante. Então os nossos músicos – Willy Corrêa de Oliveira, Gilberto Mendes, Rogério Duprat, Damiano CozzeUa – partiram para aquilo que Décio Pignatari chamou de “luta pelo avesso”. Assim, quando Eleazar de Carvalho veio apresentar como novidade, em 1966, um concerto de Música de Vanguarda no Teatro Municipal de São Paulo, Décio, Rogério, Willy e Cozzella subiram ao palco e intervieram na apresentação de “Stratégies” de Xenaquis, cantando o “Juanita Banana”. Não se tratava de molecagem. Era uma intervenção crítica, que introduzia um dado imprevisto no “acaso” controlado (totalmente “previsto” pelos músicos brasileiros) da música aleatória do compositor grego. Naquele momento e naquele contexto, a composição altamente técnica e elaborada de Xenaquis não funcionava como vanguarda. É o mesmo impulso que fez vocês tomarem posição contra o “resguardo” da BN. No momento em que a vanguarda institucionalizada se cobria de uma seriedade antiliberdade foi preciso combatê-la pelo avesso.
CV – É exatamente o que eu quero dizer. Hoje eu trabalho com tudo isso. Não eliminei, como muitos pensam, aquilo com que eu trabalhava na época anterior, mas quero incorporar novos dados à minha experiência.
AC – Eu tentei sumarizar esse salto aparentemente absurdo, de um extremo a outro da música popular, jogando com as siglas JG no meu artigo “Da Jovem Guarda a João Gilberto. . . ”
GG – – É isso mesmo. De JG a JG. Os concretistas sempre descobrindo as siglas …
AC – Na primeira fase de sua música, você teve – segundo declarou – uma profunda vivência da obra poética de João Cabral. Oswald me parece ser o dado novo em sua experiência de agora. Qual é realmente o significado de Oswald para você?
CV – Acho a obra de Oswald enormemente significativa. Fiquei impressionado, assustado mesmo, com aquele livro de poemas dele que você me deu (Oswald de Andrade, textos escolhidos e comentados por Haroldo de Campos). Só conheço de Oswald esse livro e o Rei da Vela. E mais aquele estudo do Décio, Marco Zero de Andrade, maravilhoso. Fico apaixonado por sentir, dentro da obra de Oswald, um movimento que tem a violência que eu gostaria de ter contra as coisas da estagnação, contra a seriedade. É fácil você compreender como Oswald de Andrade deve ser importante para mim, tendo passado por esse processo, tendo ficado apaixonado por um certo deboche diante da mania de seriedade em que caiu a BN. Você sabe, eu compus “Tropicália” uma semana antes de ver o Rei da Vela, a primeira coisa que eu conheci de Oswald. Uma outra importância muito grande de Oswald para mim é a de esclarecer certas coisas, de me dar argumentos novos para discutir e para continuar criando, para conhecer melhor a minha própria posição. Todas aquelas idéias dele sobre poesia pau-brasil, antropofagismo, realmente oferecem argumentos atualíssimos que são novos mesmo diante daquilo que se estabeleceu como novo.
AC – Nós passamos por um processo semelhante de formação. João Cabral, claro, foi também muito importante para nós: sua construtividade rigorosa, seu ascetismo. Mas Oswald era a abertura do avesso, do outro lado, o homem que pensou um Brasil novo, totalmente descomprometido com o sistema. Mas vamos a uma outra questão. Quais, dentre as suas últimas composições, aquelas a que você atribui maior importância?
CV – A mais importante é “Tropicália”. Esse o sentimento que me interessa agora.
AC – Possivelmente porque ela é a tradução prática de todos esses problemas sobre os quais nós vimos conversando. O grosso e o fino…
GG – – A bossa e a roça …
AC – E “Clara”, que significado tem para você?
CV – “Clara” é posterior a “Paisagem útil”. Foi feita nessa época de inquietação em que eu estava tentando retomar aquele impulso da linha evolutiva. Eu procurava uma música diferente, um som que fosse realmente novo …
GG – – Sim, foi a época em que a gente andava preocupado em entender como andavam as harmonias dos Beatles, como se encadeavam os acordes, em que a gente discutia exatamente esse aspecto.
CV – Nascida dessa inquietação de criar algo que não fosse o novo estabelecido, “Clara” é uma tentativa de fazer alguma coisa como João Gilberto, de fazer uma coisa limpa. É o lado apolíneo dessa inquietação. É muito Caymmi por certos aspectos, porque “Clara” é muito aliterativa, muito onomatopaica. Está, para mim, muito ligada a uma revisão das coisas mais importantes do início da BN.
AC – Mas tem uma limpeza, uma enxutez, que não há em Caymmi, a ausência do “dengo” baiano.
GG – – É. O “Clara” já é mais Vidas Secas, mais João Cabral.
CV – Inclusive é a própria observação que João faz a respeito da Bahia, Graciliano versus Jorge Amado. “Clara” tem o amor pelo árido de Psicologia da Composição.
AC – A preocupação com a sonoridade nova se reflete na letra. A sonoridade da letra é também muito particular.
GG – – É um caso de superposição. Como os acordes se superpõem, pla-pla-pla, em arrumação de prateleira…
AC – Isso é ainda mais evidente na segunda estrofe, onde os elos sintáticos se rarefazem e há uma espécie de espacialização sonora, menos narração.
GG – – É aquele binômio de que você fala: informação e redundância, não é? A segunda tem menos redundância e mais informação.
AC – E não é, no caso uma solução artificial, porque está vinculada à proposta sonora de células harmônicas diferentes. O que encontra uma correspondência exata na espacialização das palavras. Tudo isso faz de “Clara” – embora não seja, no momento, o centro das preocupações de Caetano – uma realização importante.
GG – – E particularmente grata aos concretistas …
CV – E, aliás, eu quando fiz “Clara”, não conhecia nada, quase nada do que vocês faziam. Dedé, sim. Das aulas de Estética do Yulo Brandão no Curso de Dança que ela fazia na Universidade da Bahia.
AC – “Clara” é não-linear. Mas também “Tropicália”, com a sua técnica de montagem, é não-linear.
CV – Creio que até menos não-linear.
AC – Talvez elas sejam o avesso uma da outra, “Clara” e “Tropicália”. Duas maneiras de ataque diferentes do mesmo problema.
CV – Talvez.
AC – Para encerrar. Que é o Tropicalismo? Um movimento musical ou um comportamento vital, ou ambos?
CV – Ambos. E mais ainda: uma moda. Acho bacana tomar isso que a gente está querendo fazer como Tropicalismo. Topar esse nome e andar um pouco com ele. Acho bacana. O Tropicalismo é um neo-Antropofagismo.