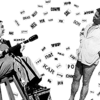Eubioticamente atraídos

o sonho acabou
Verbo tropicalista
O sonho acabou
Gil está sabendo de tudo
Entrevista com Gilberto Gil, por Hamilton Almeida
O Bondinho, 34 – fevereiro de 1972
Do primeiro dia, na sexta-feira, 14 de janeiro, duas horas depois de sua chegada – de camiseta, infinitamente magro, sentado no chão da casa da avó de Sandra, no Flamengo –, ao último dia, uma semana depois, na hora de saltar do carro de Capinam, quando nos beijamos para nos despedir, a entrevista de Gilberto Gil foi para todos nós do Bonde a descoberta de um homem novo, conciliado consigo mesmo e com sua época.
Antes de partir de viagem pelo interior do nordeste, Gil trabalhou sete dias entre Rio e São Paulo. Assistiu aos shows de Caetano no Teatro João Caetano e no Tuca. Dois dias depois de desembarcar no Brasil, estava em Santa Cruz da Serra (na Rio-Bahia, antes de Petrópolis), na casa de Luís Gonzaga, xaxando. Viu o show dos Novos Baianos e de Chico Buarque, no Rio. Redescobriu São Paulo andando pelas ruas anonimamente de madrugada e durante o dia. A ponto de exclamar às 6 horas da manhã, quando uma luz violeta começava a mostrar o céu na Avenida São Luís:
É!… eu gosto de São Paulo pra burro!… éééééé…
Foi visitar Lanny e Hermeto no Stardust e ficou seis horas ouvindo, e conversando. Depois, no fim da madrugada, no vestiário dos empregados, fez um improviso de mais de meia hora com Lanny – um free, como ele diz com sotaque baiano. Na saída, quando Roberto Freire foi lhe dar umas flores, Gil conversou assim com ele:
– Eu não trabalho com mágoa, meu irmão. Aprendi isso… Que a gente não pode ser paternalista…
– Duro é ser irmão, não é, meu irmão?
– É… duro é ser irmão porque todo mundo qué ser pai…
O florista deu-lhe um punhado de flores vermelhas e Gil perguntou:
– Qui flores são essas, meu irmão?
– Cristas-de-galo!
– Han! Han-hannnn! (entre riso e surpresa).
Mandou consertar seu violão Cantor nº. 3 na Di Giorgio, em Santana, na fábrica, e pegou outro emprestado. Transou com Hermeto e outros músicos sobre a produção de seu próximo disco, em São Paulo, no mês de março.
Viu o estúdio da Eldorado e teve uma reunião com André Midani, da Philips, seu amigo. Deu a maior força ao show de Caetano no Tuca, lugar onde Cae não queria cantar sem que Gil estivesse presente, assistindo. De volta ao Rio, procurou Paulinho da Viola e não encontrou – ficou pra Bahia. Viu o show de Gal e o Flamengo vencer o Vasco, seu time, por 1 a 0, no torneio de Verão. Aí ficou amigo de Afonsinho. Pra viagem de carro pelo nordeste com Capinam, levou gravador, máquina de filmar em 16 milímetros, máquina fotográfica, seu violão e o Chris, um inglês muito simpático, seu técnico de som:
– Como se diz… see you later!
– Tchau! Até logo…
Quando chegar a Recife, no início do mês, vai se apresentar pela primeira vez no Brasil – com Gal Costa. Tudo pode acontecer. Na última vez que estiveram juntos no Mutualité de Paris, ficaram 43 minutos improvisando com “Acauã”, de Luís Gonzaga. Sim, Gil ainda se perguntando se deve pegar o telefone e mandar chamar João Gilberto em Nova Iorque. Até hoje eles não se conhecem e Gil tinha vindo com esperança de encontrá-lo. A dúvida de Gil:
– Será que tem de ser assim, meu irmão… forçado? Num sei… mas se der vontade mesmo, eu pego o telefone e chamo. “Vem, meu irmão, que eu estou precisando de você!”
O sonho acabou
Quem não dormiu no sleeping-bag
Nem sequer sonhou o sonho acabou
Hoje, quando o céu foi demanhado
De sol vindo, vindo, vindo
Dissolvendo a noite na boca do dia.
O sonho acabou dissolvendo
A pílula de vida do dr. Ross
Na barriga de Maria.
O sonho acabou desmanchando
A transa do dr. Silvana
A trama do dr. Fantástico
Meu melão de cana.
O sonho acabou transformando
O sangue do cordeiro em água
Derretendo a minha mágoa
Derrubando a minha cama.
O sonho acabou
E foi pesado o sono
Pra quem não sonhou
Quem não dormiu no sleeping-bag
Nem sequer sonhou.
– Legal… pois é, essa música, é engraçado, essa música… essa idéia do sonho acabou… bom, eu comecei a fazer a letra em Glastonbury, no último festival que houve na Inglaterra em junho, dia 21 de junho de 71, e foi o último também que a gente foi, tava o grupo todo, foi a turma toda. Eu, o Caetano, Dedé, Sandra, Macalé, Giselda, o Glauber Rocha, o Júlio Bressanne, o Rogério Sganzerla, Helena Inês, Tuti, Nina, Moacir, Áureo, e… sei lá rapaz, mais uns 40 brasileiros, cê tá entendendo? Tinha gente lá e eu escrevi essa letra lá, numa tarde, exatamente na tarde do dia 21 de junho, que foi o dia do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, é o dia que o sol vai mais alto, e era o dia exatamente que lá em Glastonbury se comemora o dia da fertilidade, no sentido ancestral da cultura, dos costumes ingleses, cê tá entendendo? Inclusive esse vale foi escolhido porque é onde fica o Thor, monumento que fica numa montanha construída, uma montanha artificial. Esse monumento foi posto na linha do vale, que faz justamente no dia de solstício uma linha que vai direto até a pedra de Stonehenge, onde o sol concentra naquele meio de pedra, e forma uma linha de força de energia que fertiliza toda a região, dentro do sentido da ligação, vamos dizer, mística, com a coisa cósmica, na visão dos antigos povos, da ilha, tá entendendo? Então a festa foi feita pra comemorar tudo isso, e realmente no dia 21 de junho a gente sentiu mesmo o sol batendo, e a linha toda de fora, as vibrações, tudo, era realmente um negócio muito forte, era um festival de música pop, era o último que tava se fazendo na Inglaterra, havia aquela coisa toda, foi logo depois da entrevista do John Lennon falando que o sonho tinha acabado, daquela entrevista que o Caetano tinha feito para a revista Veja, onde ele falava de tudo isso. E eu era uma pessoa que na época ainda não colocava, ainda não usava essa frase, não verbalizava esse problema. Porque embora eu soubesse que o sonho tinha acabado, a formulação dessa idéia pra mim era uma coisa que me envolvia, uma conceituação muito mais profunda, ou seja, uma necessidade de compreensão muito maior, muito mais intensa, ou seja, na medida em que eu dissesse que estava pronto a declarar que o sonho tinha acabado, eu devia estar com idéias mais claras a respeito disso, cê tá entendendo?
Então essa letra me ajudou, foi assim como que uma revelação do que significava o sonho ter acabado pra mim, no sentido todo da música pop, do psicodelismo, da coisa de diluição da comunicação, da massificação moderna, da exaustão, dessa vivência toda dos anos 60 etc. Então começou assim, mas eu não fiz logo música não, ficou aquela letra lá; porque também eu ainda continuei a questionar embora aquela letra já fosse o começo da coisa, porque falava que “o sonho acabou dissolvendo a pílula de vida”. Começa com a coisa da natureza mesmo. “Hoje cedo quando o céu foi demanhado, de sol vindo, vindo, vindo, dissolvendo a noite na boca do dia”, então a primeira colocação era essa que me colocava logo em paz com a coisa natural toda, com a mudança mesmo geral. Depois vinha a coisa da “pílula de vida do dr. Ross, na barriga de Maria”. Depois vinha o negócio “desmanchando a transa do dr. Silvana, a trama do dr. Fantástico”. Tinha todo esse lado, com a coisa moderna, um processo de cibernetização, da massificação da vida moderna, duas figuras bem características disso, duas pop-características disso, o dr. Silvana e o dr. Fantástico do filme do Kubrick. A história em quadrinhos, depois a coisa do “transformando sangue do cordeiro em água”, que é bem a idéia disso, da coisa toda religiosa, que povoou aqueles movimentos hippies e tudo mais.
Uma espécie de dissolução mesmo dos sentidos religiosos conhecidos pelas nossas civilizações, oriental e ocidental, diluídas naquele processo todo de ansiedade, em torno do divino, que era bem uma característica da juventude de agora, e finalmente também com figuras meio humorísticas da coisa, como “derretendo meu melaço de cana”, que é bem uma coisa da relação da gente com as coisas bem naturais e de uma certa forma perdidas no espaço e no tempo por causa da distância dos lugares, cê tá entendendo?
Melaço de cana pra mim é mesma coisa que Pernambuco, que um engenho da Bahia, e eu tava lá naquele fim de mundo. Depois vem a coisa do “derretendo a minha mágoa, e derrubando a minha cama”, pra completar o sentido do sonho destruído. Então a música era bem isso. Toda música pra mim tem sempre uma historinha assim. Eu não vou ter mentira mesmo, pode ter engano, mas não tem mentira. Então foi isso, mas de qualquer forma eu ainda não achava que isso podia ser um quadro, uma redução justa ainda, perfeita, pra dizer que meu sonho… cê tá entendendo? Porque quando a gente tá nessas dúvidas, a gente fica exigente. eu pra falar que o sonho acabou, no sentido todo de que a música pop tinha chegado a um fechamento de ciclo e etc., era preciso que eu estivesse achando mesmo, acreditando mesmo. Eu não ia dizer assim de graça, porque John Lennon tava dizendo. Eu concordava com ele, a visão dele era perfeita, um dia inclusive eu tava conversando com Caetano, e Caetano disse “é claro, Gil, acabou pra ele, né? Eu disse “lógico, acabou pra ele, quando acabar pra mim eu falo”. Então essa música foi a forma. Mas eu não fiz logo porque eu ainda tinha essas dúvidas todas que eu tou lhe falando. Aí então agora, no fim do ano, depois que eu estive em Nova York, depois que eu fiz o show de Paris, e tudo, que eu voltei, então eu resolvi fazer uma musiquinha. Digo “bom, agora eu acho…” Reli – que eu guardo meus papéis todos; tenho coisas que escrevi há dois, três anos atrás, tem coisas que escrevi aqui antes do Tropicalismo. Eu tenho meus papeizinhos, de vez em quando eu olho, dou uma olhadela, vejo como é que tá, se ainda me diz alguma coisa, se ainda tem validade, eu fiz a música pra “O Sonho Acabou”. E aí encerrou a história. Eu agora vou gravar, vai virar uma outra coisa qualquer já.
– Eu queria que você desse uma falada do começo do sonho até essa música…
– Como é que foi?
– Você falou do fechamento do ciclo da música pop, eu queria que você falasse do ciclo.
– Ah, mas … sei lá … um ciclo foi … foi tudo, né? Eu comecei, digamos assim, a ter consciência dessa coisa, ou trabalhar em termos de música com essa imagem, com essa visão de música pop povoando minhas idéias e minhas emoções, depois dos Beatles, por volta de 1966. Porque antes… porque música pop é toda música popular desses últimos… do após-guerra, essa coisa da industrialização, do processo de massificação, toda a música norte-americana de após-guerra foi pop, Ray Conniff era pop, cê tá entendendo?
– Seria o oposto da inibição…
– É exato. Seria a coisa de cultura de massa, ligada a esses processos todos de industrialização, comercialização, todas essas coisas modernas. Pelo menos é a minha visão. Porque eu sou muito ignorante em termos dessas coisas todas, porque todo mundo fala, os teóricos de tudo, eles dizem coisas, e eu leio, vejo as coisas que os caras dizem, e algumas coisas eu concordo, outras não. Mas de qualquer forma essas informações, de tudo que se dizia sobre pop, e tal. Então eu fazia um apanhado geral e tinha o meu resultado, que de uma certa forma concorda com uma visão clássica do que é a música pop etc. Como eu tava dizendo, por volta de 66, 67, essa idéia passou a povoar o meu mundo de criação e eu então passei a observar tudo, porque aí também já todos os jornais, todas as revistas, tudo que tratava de música, já era usado mesmo. Jimi Hendrix era música pop, Janis Joplin era música pop, e Bob Dylan, e os Beatles, e Joan Baez. Roberto Carlos era música pop, e coisas desse tipo. Eu tou citando todos esses nomes, e por exemplo não citaria… – hoje eu digo que Elis Regina era música pop – mas naquela época eu não diria. Então isso pode dar a vocês a indicação do que significou, ou de como começou o ciclo de música pop pra mim. Até 65, 66, a imagem de Elis evidentemente que era uma coisa pop, mas eu falo a consciência disso, ou seja, a dissecação do fenômeno. Elis Regina não era feita por mim como dentro da fenomenologia do pop, cê tá entendendo? Hoje eu incluo, porque evidentemente a distância, o afastamento com o tempo, vai ampliando e diminuindo, vai arrumando a casa, vai trazendo certas coisas para o interior. Certas coisas que eram externas vão ficando internas ao quadro, à visão, quanto mais você se afasta. Então isso é que eu acho… Sei lá… quando você me pergunta: fale do ciclo de música pop, o que que você, na sua visão espera?
– A partir das informações que você tava recebendo, como é que você ia transformando o negócio em música?
– Ah, exato. Por exemplo “O Sonho Acabou”: esse samba é um comentário de um final. O que comecei a comentar… você quer ver uma música que é bem, bem, bem, resultante da consciência dessa visão do pop povoando a minha mente, meus sentimentos? “Ele falava nisso todo dia”. Inclusive, sempre que eu penso, a música mais remota que me parece ter sido pop foi “Ele falava nisso…”, eu foi feita pouco antes de “Domingo no Parque”, que aí era meu manifesto pop mesmo. “Domingo no Parque” foi mesmo uma música onde a minha intenção era mostrar o meu envolvimento com aquela coisa que se chamava pop. Era minha tentativa de dizer até que ponto eu conhecia aquele processo, eu concordava coma visão que se tinha dele. Porque ali já é tudo mesmo, ali já é a colagem, é o flash, é a coisa cinematográfica…
– Fala das características do seu pop.
– Flash, colagem, visão cinematográfica, essa coisa do jornal e as pessoas lendo, comprando revistas, a Editora Abril… exato, a Editora Abril, de repente lançando mil coisas, folhetos, e fazendo revistas diferentes, especializando, pegando áreas da cultura e dedicando uma imprensa especial a ela, popularizando por isso mesmo, jogando informações na praça; televisão, aqui em São Paulo a TV Record é símbolo de uma coisa extremamente pop, nos anos de 60. Todos esses eram, digamos assim, os ingredientes, as coisas. Eu, como falava disso, tava ligado a uma coisa dessas, pra mim pop era uma coisa urbana, cê tá entendendo?
– Coisa asfáltica…
– É… coisa concrética, era muito isso, e foi exatamente nessa época e “Ele falava nisso todo dia”. A minha visão disso, do drama urbano, de um cara que precisa da segurança dada pelo sistema, na ilusão de uma segurança maior do que a real entende? Do seguro de vida, tudo isso, é muito Dylan, muito por causa do Bob Dylan, daquela preocupação dele, de falar dessa coisa civilizada, moderna, tudo mais…
– De certa forma, você, Gil, vinha de um mundo rural…
– É exato, minha formação toda era rural, meu interesse… despolarizava uma característica fundamental de minha formação, de estrutura mesmo, de base, de origem, pra dar, pra abrir para a impregnação do novo… Aquilo tudo era novo pra mim. O Caetano diz, por exemplo, que pra ele a coisa pop começou com o cinema. Pra mim não, pra mim começou com a música mesmo. quando se começou a falar de música pop, aí então foi que eu comecei a entender o pop. O resto todo. Porque a música começou a comentar sobre o resto todo. Eu nunca fui muito interessado pelo cinema. Cinema pra mim era diversão mesmo, sempre foi. Só depois da música pop é que eu comecei a ver cinema como uma arte também participante, comentário da realidade, crítica da realidade moderna etc. Eu acho que é isso… Sei lá o que mais era pop pra mim, deixa eu ver… a… a coisa toda, o tropicalismo foi bem claro nesse sentido, o cafona brasileiro, aquela coisa toda, tudo aquilo era pop. Fórmica é o símbolo bem claro do pop.
– Uma coisa engraçada, porque são duas vidas, uma vida rural e uma vida urbana praticamente, e vocês, mesmo com essa vontade de se impregnar dessa coisa pop, vocês tinham uma certa visão crítica da vida urbana…
– É, porque era nostálgico em relação à perda da coisa, e isso se refletia muito na música da gente. Não sei bem por que, meu nego, sei lá. Caetano é que era, mesmo, o mestre dessa interpretação. Minha visão se concentrava muito mais no aparato da coisa pop do que na essência, enquanto Caetano procurava entender a essência do que ele ouvia, e as músicas dele falavam bem disso. Eu ficava mais na descrição da fenomenologia pop, enquanto ele ficava ali buscando o sumo, a palavra que dissesse melhor da síntese toda…
– Você identificava, de alguma forma, essa movimentação pop, o colorido, as colocações de várias coisas juntas? Você identificava de alguma forma o teu mundo rural? Porque o mundo rural tem muita coisa assim, por exemplo, você vê o bumba-meu-boi, um cantador, uma feira…
– É, mas isso num tinha mesmo, porque é como eu disse no começo. Pop, pra mim, era o tango, mesmo. Talvez fosse uma deficiência de visão, o pop pra mim era como se tivesse havido mesmo história, como se o rural tivesse vindo, realmente antes, e como se o urbano tivesse vindo realmente depois, cê tá entendendo?
– Mas o pop é tipicamente urbano, não é?
– É. “She is leaving home”, por exemplo, é uma música urbana. É a menina em Londres, saindo de uma casa, de um mundo, da cidade, abandonando uma família burguesa mesmo. “A day in the life”. O garoto no cinema assistindo a um filme; ele lia o jornal, o jornal é uma coisa urbana. Não havia essas coisas em Ituaçu, quer dizer, essas coisas não povoavam a paisagem do meu mundo rural. Então, o mundo rural tava afastado… A coisa da música pop rural, pra mim, foi um corte umbilical, foi um corte mesmo do cordão umbilical, foi uma coisa de me atirar mesmo… Era como se eu realmente tivesse que fazer movimento de me atirar porque nada me empurrava adiante, nada me impulsionava do mundo anterior para a coisa pop. A coisa pop foi como se a história toda deslocasse o mundo e a minha vida nele pra um determinado ponto e esse deslocamento exigia de mim um movimento igual e da mesma intensidade, senão eu não tava vindo, com ele. Então realmente eu tive que fazer um esforço, eu tive que aprender, eu tive que arrebentar, eu tive que pensar de forma diferente, então a paisagem rural só deixava um dado nostálgico que evidentemente vinha aparecer no comentário sobre o urbano, cê tá entendendo?
– Tinha uma coisa: você parecia muito feliz nessa procura…
– Era, porque não havia, exatamente, mais consciência. Não havia a dúvida de que eu pudesse estar certo ou errado. Havia necessidade, urgência. Eu sentia que havia um movimento na história, uma superação de fases, que a coisa urbana de repente era concreta, se caracterizava no mundo em termos de realidade, em termos de um novo valor, de uma mudança qualitativa. Havia uma mudança qualitativa exterior a mim, então isso exigia uma mudança qualitativa no meu íntimo, no meu interior. Então, quando essa coisa era uma exigência, e eu sentia, e eu me dava, então não havia mais consciência, não havia dúvida, entende? Era uma coisa necessária, necessária. Tanto era necessária que melhorou, no sentido de que hoje eu mesmo me vejo. Eu hoje me acho uma pessoa melhor, quer dizer, me acho um cara mais bem informado, me acho um cara mais tranqüilo, um cara com uma sensibilidade melhor pra ver as coisas por aí. E tudo isso foi dado por essa coisa mesmo de eu ter me jogado, quer dizer, me joguei, quase caio, no pulo, no cair eu me escorreguei, quase se esborrachando mas acabei ficando em pé, cê tá entendendo? Então o salto foi alegre, tanto foi alegre que me deu firmeza no pisar no chão, na queda.
– Gil, você contou que ficou 18 anos em Ituaçu, né?
– Não, fiquei 10 anos, depois vim pra Salvador, mas Salvador não mudava nada. O pop, pra mim, foi São Paulo, entende?
– Eu queria saber se quando você fazia música popular brasileira, você tinha uma visão um pouco diferente da maioria dos compositores de MPB?
– Eu não sei, isso talvez seja uma coisa de sensibilidade, que você pode reparar melhor do que eu. Eu não sabia que tinha não. Em função de quê? Digamos, de que música, por exemplo?
– Por exemplo, “Procissão”. Já não havia uma visão cinematográfica presente aí?
– É. Mas eu não tinha consciência. O que você quer dizer na verdade é que eu já tinha o talento pra vir a ser um dos fazedores do Tropicalismo, quer dizer, já estava fadado a ser Gilberto Gil que sou hoje. Eu acho que sim, é evidente. Eu acredito em destino, nessas coisas todas, entende? Mas eu não tinha consciência nenhuma nessa época; São Paulo é que foi me dar mesmo, rapaz, essa coisa. Quando eu vim praqui, rapaz, pra esse mundo de concreto e edifício e a Gessy-Lever e as fábricas e aquelas máquinas empacotando sabão em pó e detergente, lá em Campinas, aquele mundo que eu vivi no primeiro ano aqui em São Paulo, os escritórios, aquela coisa linda de publicidade, com o pessoal transando ali… Essa coisa, esse negócio de administração de empresa foi muito importante pra mim, pra me introduzir esse mundo das coisas de massa e tudo o mais… Porque eu fiz administração de empresa na Bahia, na escola, depois vim praqui, trabalhar um ano na Gessy. E eu passei por todos os departamentos da empresa, fiquei na Lintas 3 meses, vendo como era a publicidade moderna, e os caras falavam naquilo tudo. Tudo isso foi me dando essa vivência, esse conhecimento do que era uma população urbana, o que era o homem, o indivíduo, essa massa que povoa as cidades grandes e tudo o mais… uma coisa que em Salvador – e em Ituaçu muito menos – eu não tinha ainda. Salvador era muito mais citadina, como a gente dizia, do que urbana. Urbana é São Paulo. Salvador hoje é outra coisa, mas eu tô falando daqueles velhos tempos, 1949, quando eu vinha passar os carnavais na Bahia, com a família, vindo de Ituaçu…
– Você contou ontem que viu o primeiro trio elétrico…
– Primeiro trio elétrico, em 1949, exato, na rua. Eu tava na porta do armarinho de tia Dolores, na Avenida Sete… a Avenida Sete era, digamos assim, o pináculo da coisa carnavalesca, porque ali iam passar os clubes: Clube Carnavalesco Cruzeiro da Vitória, Clube Carnavalesco Inocentes em Progresso, Fantoches da Euterpe, então vinham aquelas coisas todas. Isso é muito pop, agora; naquela época eu não tinha consciência, eu não tava nem sabendo, eu achava que aquilo era o feérico, o lúdico, era a emoção pura, pra mim, era a emoção pura, pura, pura. Eu tava lá, em 49, nessa hora, mais ou menos umas cinco horas da tarde, tava ali, de repente vem pela avenida aquele negócio: um carro enorme, com uma garrafa de guaraná feita de plástico, eu sei lá do quê, de papel crepom, de papelão, de papel celofane, iluminada por dentro, com uma imitação luminosa de guaraná caindo num copo, uma cascata de guaraná dentro dum copo enorme; e três caras tocando, um tocando cavaquinho elétrico. Na época eu num sabia, eram instrumentos elétricos inclusive muito estranhos, tinham uma forma toda aerodinâmica, toda anatômica. Então aquilo irrompe na avenida, cê tá entendendo? e eu pequenininho, nos 49 eu tava com quê? Sete anos de idade, e aquilo foi uma loucura, rapaz. Sabe, uma porrada violenta na tua cuca. Aí, pronto, alumiou totalmente, alucinou completamente. Daí em diante, o trio elétrico deu o tom pro Carnaval, daí em diante… ficou aquela coisa… Me lembro que nesse ano era só o susto… depois, lá por volta de 51… 52… 53… as pessoas começavam a dançar atrás. No começo ficava todo mundo assistindo porque só quem ia dançar no trio elétrico era a marginalidade, era a canalha. Eram as graxeiras, eram os bandidos da Liberdade, os estivadores, era o pessoal que entrava na gandaia e a gente ficava de lá assistindo, porque não era de bom-tom, não podia, a mãe não deixava o garoto. Eu mesmo. Hoje não, hoje já está (“dando risada”) “inserido no contexto”.
– Quando é que você começa a descobrir a música como a tua forma de expressão?
– Ah… vou lhe dizer, rapaz… isso aos dois anos e meio, por aí, bem cedinho mesmo, bem cedinho. Minha mãe me perguntava, minha mãe costumava me perguntar quando eu tinha 2, 3 anos, o que eu ia ser quando crescer. Eu dizia que ia ser “musgueiro”. “Musgueiro”. Me lembro bem que eu dizia isso a ela. E ela também se lembra até hoje. Então, já ali em Ituaçu, cê tá entendendo? Ituaçu era uma cidade que tinha 1.200 habitantes, se tanto – era um povoado, um vilarejo. Mas era sede de município; então tinha prefeitura, tinha o forum, tinha a paróquia, tinha uma série dessas, desses… monumentos… desses edifícios da instituição, do mundo institucionalizado, representação, tinha essas coisas todas. Tinha o médico, os dois médicos da cidade – meu pai era um deles. Tinha o farmacêutico que era meu padrinho, o José Celestino da Silva. Então tinha aquelas coisas todas, cê tá entendendo? E tinha o resto do pessoal, o fogueteiro, o funileiro. E esse pessoal é que era o pessoal da banda – que tocava na banda, porque evidentemente os médicos eram surdos e mudos, em termos de música. Meu pai é surdo e mudo em termos de música. Isso é coisa que a gente sabe. O homem do povo é a grande semente, é a grande fonte. E, eles tocavam… era costume nas festas… A festa da padroeira, N. S. do Alívio, a festa dela era no dia, que dia, meu Deus?… 15 de agosto. Exatamente. Então, todo 15 de agosto, às cinco da manhã, a banda saía pela cidade. Alvorada. Eu me levantava ao primeiro som do clarinete, lá na ponta da rua, me levantava e corria pra porta, e ali ficava inteiramente. Era… era… um momento de êxtase. Eu me recordo perfeitamente da emoção, cê tá entendendo? Eram momentos mágicos pra mim, nada me dava tanto, a não ser outras coisas ligadas à música, tais como o programa de Calouros em Desfile, do Ari Barroso, domingo à noite, na rádio Tupi. Tudo era ligado à música – os discos do Bob Nelson, que seu Magalhães, o homem do Correio, tinha, cê tá entendendo? Eram coisas desse tipo. Então, a minha ligação com música, o meu entendimento de que música totalizava a expressão… deixa eu pegar bem… a música totalizava… deixa eu formular de uma maneira que vocês entendam perfeitamente o que é, de que… quando eu ouvia música eu me sentia… inteiramente voltado pra uma célula, no sentido de único, no sentido do imaginário e do real possíveis, entende? Pras duas coisas. Então, todos os meus sentidos… eu ficava no ouriço total, cê tá entendendo? Eu ficava arrepiado, ficava possuído, eu ficava em transe, era uma coisa que me colocava em transe. Era a única coisa que me colocava em transe. Com dois anos e meio, três anos de idade, quatro anos. Então, eu posso dizer que é daquele tempo a minha consciência de que música… ali já não era nem mais a consciência, era a consciência e o resto todo. E daí foi um processo mesmo, eu soube que a música era a minha linguagem, mesmo, que a música ia me levar a conhecer o mundo, ia me levar pras outras terras. Porque eu achava que tinha a música da Terra e tinha a música do Céu, cê tá entendendo? Então eu achava que ia estar no céu, um dia, por causa de música. Música de Bach… eu ouvia música clássica no rádio, eu achava que era música feita pelos anjos; pra mim era como se tivesse um teatro enorme no céu, e os anjos se reuniam e tocavam, e o rádio era um aparelho que captava a música. A fantasia era essa, mesmo! Já a música popular, não. Música popular eu sabia, porque tinha Bob Nelson, tinha os discos, e eu perguntava: “seu Magalhães, como é que é isso? Por que que tem esse disco? Como é que sai a voz?” Ele tocava no gramofone dele e dizia: “não, isso aqui é gravado, lá, tem um cantor que canta, e sai por um fio, entra por um fio, ele dizia assim, a música entra por um fio, e passa praqui pro disco, então aqui eu boto no disco, ói, tem essa agulha que passa por um fio e leva praqui pru alto-falante, então sai a voz”. E eu dizia: “mas, e Bob Nelson, quem é Bob Nelson?” Ele dizia: “Bob Nelson é um cantor que tem no Rio, que canta na Rádio Nacional”. Então, me explicava as coisas todas, então, música pop, música popular, era uma coisa do mundo, da Terra. E a música clássica, Bach, aquelas coisas com muitos violinos, era música celestial, era coisa do Céu, cê tá entendendo? E então eu achava, eu pensava comigo: eu tenho que ir nesses lugares um dia, um dia eu vou num lugar onde se faz música… e um dia também eu vou encontrar os anjos lá no céu. E tocar, e fazer música com eles. Mesmo. Negócio de eu ser músico, era uma coisa tranqüila…
– E quando é que começa…
– Então começou o interesse todo, rapaz. Eu chegava: “Minha mãe, quero uma corneta!” Aí minha mãe me dava, comprava a corneta e me dava. “Minha mãe, quero um tambor!” Aí minha mãe me dava, eu começava, ouvia samba e pegava os dois baquetes do tambor e começava a fazer samba. Começava a tocar corneta, fazia as melodias que eu ouvia no rádio. Já fazendo, fazendo música mesmo. E ali fiquei, em Ituaçu, cê tá entendendo? Ia pra feira em dia de sábado, onde o pessoal tava tocando viola. Os cegos tocando viola. Eu sentava de junto àqueles sacos de farinha espalhados pela feira, farinha, rapadura, aquelas coisas ali, os violeiros no meio e eu sentado lá, a carne-seca pendurada naquelas barracas todos, aqueles montes de umbu e melancias. Ficava por ali, andando, os violeiros tocando, os cegos fazendo improvisos, desafio, aquelas coisas. Até que eu vim pra Salvador, em 1950, já com nove anos e pouco e aí eu cheguei e disse pra minha mãe que eu queria um acordeon, queria uma sanfona. Ela aí chegou e disse “não, então vou lhe botar na escola, pra você aprender”. Mas não tinha escola nessa época em Salvador. Tinha um médico, doutor José Benito Colmenero, um espanhol que tava começando a dar umas aulas de acordeon no consultório dele, que ficava naquele edifício da sorveteria Primavera. E eu fui tomar aulas com ele. Uns seis meses depois ele abriu a primeira academia que se chamava Academia de Acordeon Regina. Aí então começou – acordeon. Já por causa do Luís Gonzaga que eu tava ouvindo no serviço de alto-falante. Bom, entre o tempo da corneta e do tambor, pra o acordeon, foi o serviço de alto-falante, com os discos, entende? Me lembro bem de… de… Linda Batista cantando… “Vingança”. Me lembro do Chico Alves cantando “Esmagando Rooosasss”, cê tá entendendo? E… Luís Gonzaga cantando tudo. Era o mundo inteiro pra mim, porque Luís Gonzaga era o preferido ali da região, todo mundo queria Luís Gonzaga. Eles tocavam tudo, mas Luís Gonzaga principalmente, e era aquela loucura, então eu tinha gamação, aí veio a minha coisa por acordeon. Comecei a estudar acordeon, foi um ano, dois anos, três anos, quatro anos, fazendo ginásio também, aí começou a coisa de violão. De vez em quando aparecia um violão, mas eu pegava no violão e não achava nada. Acordeon era um instrumento racional pra mim, tinha o negócio dos teclados, era relação imediata, matemática – pó-pó-pó-pó-pó-tin-ta-ra-ra-rara-ri-ra-ran, dedo atrás de dedo, tudo claro, as brancas e as pretas, tudo certo. De um lado e do outro, tudo certo. Então eu gostava. Violão, não! Eu pegava e não via nada, eu via seis cordas e não sabia de nada, como é que se organizava, como é que se formavam sons…
– Até que você…
– Até que apareceu João Gilberto, meu filho. Em 1959, cê tá entendendo? eu estava voltando do colégio, eu me lembro. Nessa época eu tava terminando o curso científico, já tocava acordeon há uns oito anos, já tinha um conjunto onde eu tocava. “Os Desafinados”, já tinha transado mil forrós no interior daquelas fazendas… aquelas coisas todas. Bom, eu tava voltando do colégio, chego em casa, minha tia Margarida bota o almoço e liga o rádio, Rádio Bahia. Aí, meu filho, está tocando aquela música que abre o primeiro LP do João Gilberto, o Chega de Saudade. Eu aí disse “o que é isso?” Sabe, senti uma coisa estranhíssima mesmo, aí parei de comer, fiquei de pé no rádio, escutando, aí acabou porque as músicas do João eram rápidas, era aquela coisa “fuuu”, aí acabou. Aí, eu fiquei, fiquei, fiquei a tarde toda, estudando com o rádio ligado. Aí, lá pelas 4 horas, vem de novo, rapaz, João Gilberto, já cantando uma outra faixa do disco, mas com a mesma sonoridade. Aquilo me impressionou terrivelmente, uns dois ou três dias depois encontrei com um rapaz que trabalhava na Rádio Bahia. Eu digo “venha cá, tem um disco que vocês tão tocando, que eu ouvi já ontem, que tem uma música assim que tem um negócio de um violão muito diferente”. Ele chegou e disse: “Ah, eu sei quem é, é o João Gilberto, um cantor novo que apareceu no Rio agora”. Aí eu fiquei, rapaz… e coincide que uns meses depois minha irmã ganha um violão no aniversário. Então o violão ficou lá em casa, começou aquela presença estranha, quer dizer, era um violão todo preto, com a boca branca, tinha aquela boca de plástico, ficou aquela presença estranha. E João, nessa altura tocando várias vezes por dia, várias vezes, uma coisa… Aí eu digo: agora num tem jeito, eu tenho que tocar violão, eu tenho que fazer isso que esse homem tá fazendo, eu quero aprender a fazer isso. E aí começou: peguei o método, comecei… as posições em dó maior, sol, fá, transando, e logo que eu consegui armar três ou quatro acordes, que podiam harmonizar as músicas básicas, fui logo pra batida da bossa nova que me deu um trabalho de cão. Porque eu só entendia a batida como baião, nunca como samba. Eu não podia relacionar samba àquilo que João tava fazendo. Eu ia bater, pegava no violão e dizia “samba”, mas não dava. Eu já imitava ele cantando baixinho, mas ia fazer a batida, num dava. Aí, ouvindo, ouvindo, ouvindo, ouvindo, pegava o violão correndo, só dava baião. Hoje em dia eu entendo um pouco, como sendo mesmo, como se fosse mesmo… porque João era lá de cima, ali de Juazeiro e tal. E aí pronto, peguei o negócio da bossa nova e começou o violão, em 60, 61 e aí veio logo a coisa de compor, também, aí fiz logo um samba, que foi aquele “e o bom, felicidade, vem depois”.
– Você tava estudando ainda ou já tinha parado de estudar?
– Eu tava estudando administração de empresas. Eu tinha entrado na faculdade em 1960. Fazia escola, fazia música, fazia jingle, fazia o diabo a quatro, fazia programa de televisão, gravava, trabalhava na alfândega, ia ver a namorada todo dia de noite, cê tá entendendo? Uma loucura só, e… em 1963, conheci Bethânia, Caetano, todo mundo, aí começamos a fazer inclusive shows de teatro, o diabo a quatro.
– Essa transa desse conhecimento foi através de música ou de colégio?…
– Foi através de música, porque Caetano era da universidade também, mas era da escola de filosofia; a universidade não era uma coisa reunida naquela época, tinha prédios em diferentes lugares. Então, não conhecia Caetano. Mas, em 1964, ia inaugurar o Teatro Vila Velha, com uma semana de arte em geral, com tudo o que tinha na universidade da Bahia, que naquela época transava arte no mais alto grau. Então o João Augusto, diretor do teatro, disse: reúne esses meninos aí pra fazer um negócio de música popular. Então conheci Bethânia e Caetano e a gente começou a falar de música, eles disseram: “Ah, eu conheço você da televisão, você gosta de bossa nova”. Eu dizia: “Eu gosto, aprendi bossa nova por causa de João Gilberto”. Aí Caetano: “João Gilberto, puxa! Eu adoro João Gilberto”. E plá, e aquela coisa toda, e aí foi aquele clima mágico, incrível. Aí, no mês de julho de 1964, com a inauguração do teatro, a gente foi lá e fez o show, chamado Nós, por Exemplo, título dado por Caetano, num show em que ele bolou tudo. Esse show criou um … sei lá… criou um clima estranho na cidade. Foi aquele negócio de arte, Semana de Arte no teatro Vila Velha, e a gente faz o show, e a gente cantava bossa nova, e cantava músicas antigas. A inteligência do Caetano, já transando, já brilhando ali… sabe? Bolando aquelas coisas todas, fazendo aquelas pontes incríveis – presente, passado e futuro. Já mandando aquela coisa toda na cuca, e a gente ali, com ele, e eu fazendo a supervisão musical, ensaiando os vocais, botando Gal e Bethânia e a gente pra cantar junto, fazendo as coisinhas todas, arrumando, arrumando as harmonias das músicas, os acompanhamentos, transando aquelas coisas ali. Aí começou… dali pra cá, a história é conhecida.
– Mas você não veio pra São Paulo só por causa da música, né?
– Não, eu vim praqui fazer aquele teste na Gessy-Lever. Fiz o teste, passei, me casei em maio de 65. Me formei em dezembro de 64, janeiro de 65 eu vim praqui, passei uns 10 dias aqui conheci Chico Buarque no João Sebastian Bar. Quando eu voltei pra Salvador, cheguei lá, chamei Caetano e disse pra Caetano: “Caetano! Encontrei um cara em São Paulo que não é normal, chamado Chico Buarque de Hollanda!”
– João Sebastian Bar…
– É… Aí eu vim, tô nessa, aí um dia de noite eu saio, tinha um bar chamado Bar Bossinha. Eu saí com um colega e fui pra lá. Eu sabia que tinha um baiano que tocava lá, que era dono, que era o Geraldo Cunha. Mais tarde me levaram à Baiúca e fiquei conhecendo a Thelma Soares, que nos levou ao João Sebastian. Estava lá – na época eu não conhecia – o Hermeto, tocando piano e flauta; o Theo, tocando guitarra elétrica, o Papão, tocando bateria. A essa altura, esse colega meu, da Gessy, já tinha dito à Thelma e ao Geraldo Cunha, que eu cantava, tocava, fazia música etc. E nesse dia tavam comemorando o aniversário do Chico Buarque de Hollanda, que era um garoto que estava aparecendo, da faculdade de arquitetura, e pediram a ele e ele foi cantar. Eu não me lembro qual foi a música que o Chico cantou, não me lembro se foi “Pedro, pedreiro”… Acho que era. Nessa época, a única música de sucesso do Chico era aquela do Festival do Guarujá que o Geraldo Vandré tinha cantado. É uma que falava do carnaval… “Carnaval, desengano”. Resultado: aí pelas duas, três horas da manhã, tava eu, viola na mão, cantando “A roda”… Foi a primeira música que eu cantei em São Paulo. Uns três ou quatro dias depois, eu voltei pra Salvador, foi aquela época que eu cheguei lá falando, todo encantado com São Paulo…
– Você veio mais dar uma armada…
– Eu tinha vindo fazer o teste da Gessy, e ver como é que era. Aí passei no teste e teria que voltar praqui pra fazer o estágio, mas eu não podia porque eu estava namorando, gamado, naquela base, entendeu? Então eu disse: não vou voltar agora, só daqui a uns seis meses, porque eu quero me arrumar, quero me casar. Dito e feito. Me casei, em maio, em Salvador, com a Belina, que é mãe da Narinha e da Marília. Belina de que eu vim a me separar mais tarde, cê tá entendendo?
– Casou e voltou pra São Paulo.
– Me casei em 26 de maio de 1965, dia 7 de junho de 1965 eu chego em São Paulo, à tarde, e à noite me levam para o teatro Record onde ia acontecer o segundo programa do Fino da Bossa, no qual aparecia pela primeira vez Ari Toledo, cantando e fazendo um imenso sucesso. E eu sentado lá na platéia, e aí o Zimbo Trio, Elis Regina etc., e aí eu já fiquei louco, já decidi que tava naquela, de que eu ia entrar naquele bolo. No outro dia comecei a trabalhar na Gessy, mas já sabia que o meu negócio era música. Fiquei na Gessy, trabalhando, trabalhando, trabalhei um ano, aí conheci Vinícius, nesse período foi que Bethânia estava com Opinião aqui em São Paulo. E aí eu comecei, né? Redondo. Todo fim de tarde, acabava o trabalho, chegava eu de pastinha, e gravata, paletó, punha a maletinha de lado, sentava lá no Redondo e tomava aquele chope. Aí aparecia o Vinícius, o Baden de vez em quando. Bethânia já tava conhecendo o pessoal todo, me apresentava, e tal, aí a gente sempre tocava um violãozinho. Nessa época eu tava morando na Cidade Vargas, trabalhando na Gessy mas o tempo todo voltado pra o mundo da música. Aí assistia todos os Fino da Bossa, na Record, batendo papo ali no corredor, com todo mundo, Bethânia me apresentando a um hoje, outro amanhã; e eu com Caetano ficando amigos da turma, até que o Boal inventa de fazer… como é que se chamou?
– Arena canta Bahia…
– Arena canta Bahia, ali do lado do Redondo mesmo. Bethânia tinha acabado o Opinião, os amigos, o irmão dela, tavam aí, Caetano fazia música, o amigo Gil estava, Gal tava aí, nessa época também. Tom Zé já tinha vindo. Pronto, aí fizemos o Arena canta Bahia. Foi mais ou menos. Aí Caetano voltou pra Bahia e eu fiquei fazendo Tempo de Guerra, já no Oficia, com Bethânia, Gal, Tom Zé e tudo o mais. Isso aí já era o fim de 65, ou começo de 66, não me recordo bem. A Elis grava “Louvação”, é aquele estouro; comecei a cantar na televisão, depois um show com Vinícius e Bethânia no Rio, me mudei pro Rio de Janeiro, gravei o primeiro disco com a Philips…
– Tem uma história, de 1967, em Recife… que foi uma grande porrada…
– Foi… foi… Eu cheguei no Recife, fui fazer um show no Teatro Popular do Nordeste. Fiquei lá um mês e o pessoal em Recife tinha muito aquela coisa de cultura popular, naquela época era uma coisa bem viva pro pessoal, universitário, tudo o mais, eles tinham essa preocupação com folclore. Então como eles achavam que eu era um compositor, um dos compositores, um dos artistas brasileiros interessados naquela coisa, então eles faziam questão de levar, de gravar ciranda pra mim, me levar pra ver a banda de pífaro, em Caruaru, eu chorei, fiquei emocionado, de ver aquela coisa tremenda. Então eu voltei do Recife pro Rio com a certeza de que alguma coisa tinha de ser feita em termos de movimento, em termos de integração daquelas necessidades que eu achava que já existiam no universitário brasileiro, ali… Onde Recife é bem um exemplo, cê tá entendendo? Nessa época… Sérgio Ricardo era Sérgio Ricardo, Caetano Veloso era Caetano Veloso, Vandré, era Vandré, e eu era eu, tudo o mais. Eu tava muito… sei lá… foi uma porrada que eu tomei lá e que me fez vir tomar outra no Rio, tá entendendo? Quando eu comecei a reunir o pessoal, pra ver o que a gente fazia… isso foi em 67, pouco antes do Festival de “Domingo no parque”, de “Alegria, alegria”. Então aí, nessa tentativa de reunir o pessoal, nada deu certo… Chico inclusive fala, sem citar a época, mas ele fala na entrevista a vocês, onde se tentava reunir o pessoal, então chegava um bêbado, outro chegava tarde, outro tinha que sair… os outros não concordavam com nada daquilo. E eu com aquela ilusão de tentar reunir o pessoal. Na verdade era uma atitude minha, era reflexo de uma má consciência política, tentando misturar tudo com aquela confusão na cabeça de música de protesto, aquela coisa toda de música participante, não sei quê. Foi uma época em que eu tava realmente muito confuso. Muito por fora, cê tá entendendo? Mas também me desencantei logo, tudo ficou logo muito claro que não dava certo, aí fiz “Domingo no parque”, fiz o “Frevo rasgado”, fui aproveitar eu mesmo o material que tinha conseguido em Recife…
(Gil começa a repinicar no violão, falando ao mesmo tempo)
… lá em Londres, fazer qualquer tipo de som. Aí a coisa foi abrindo mais, foi abrindo. Pra conseguir as coisas é preciso gritar. Mesmo, Pra depois começar a organizar. É preciso ir soltando, pra depois começar a organizar… Essas coisinhas…
(parece referir-se às notas que tira do violão, descontraídas, sem significar música nenhuma)
… por exemplo, quando eu saía daqui do Brasil, era impossível eu tocar uma música tão assim… coisa de relaxamento, eu não fazia. Eu só sabia fazer acordes no violão, eu não tinha nenhuma desenvoltura com a mão esquerda. Nenhuma mesmo. Se eu fosse tocar “Babylon”, eu fazia:
(toca os seis, oito primeiros compassos)
… quer dizer, eu tava preso, preso mesmo, não tinha uma coisa de… era difícil explicar… Hoje em dia “Babylon” tá:
(Toca de novo: o violão muito diferente mesmo)
… sabe, esse tipo de coisinha, de diferença…
(Pára, pra pedir ao garçom do hotel que traga um guaraná, três cervejas e um suco de uva. Fica tocando no violão outra vez, com muito balanço)
… eu era incapaz de fazer isso aqui, ó! Não tinha condições técnicas, não tinha possibilidades… não tinha audácia pra isso. Possibilidade tinha, mas eu não tentava… Achava que não podia nunca… Eu me lembro do dia que resolvi mexer os dedos pra desenvolver, lá em Londres, a guitarra. No dia primeiro do ano de 1970, numa festa, tinha um pessoal… que tocou, tocou, tocou, ali, desenvolvendo os acordes; mais ou menos uma hora da manhã, coisa de comemoração de ano novo, aí eu fui lá pra cima e comecei a fazer escala. Fiquei até as três fazendo escala, e naquele dia eu decidi que ia soltar meus dedos. Sabe? Porque já tava cheio daquela… não agüentava mais aquela coisa presa, de ficar fazendo acorde. Resolvi que ia tocar, solar alguma coisa na guitarra. E assumi um pouco aquela coisa, de solista, de músico pop. De modo que agora que a coisa tá se soltando um pouco, eu ainda tou meio… mas dentro de um pouco a coisa vai ficar melhor…
– Naquela entrevista com Manchete… você falou… você casou três vezes, descasou duas…
– Descasei duas, ah-ahahah… Olha, a minha primeira mulher foi Belina, uma menina da Bahia que eu conheci em Salina das Margaridas, em 1960. Eu era muito sozinho naquela época, e a relação com a mulher pra mim era muito difícil, sei lá, eu era um menino criado numa família muito puritana, muito rigorosa em termos de valores estratificados da família pequeno-burguesa, eu tinha passado oito anos, digamos assim, básicos, da minha vida, em colégio de padres, cê tá entendendo? De estrutura muito rígida do ponto de vista religioso. Eu tinha sido muito carola numa certa parte da minha puberdade, e tudo aquilo dificultava muito, então eu era muito susceptível às paixões, cê tá entendendo? Desenfreadas e inteiramente irracionais e tudo mais, aquela coisa do amor. Eu acreditava muito no amor, aquela coisa da paixão, da paixão mesmo, do compromisso total, da fidelidade ao sentimento, à imagem do definitivo, eu era perseguido pela imagem do definitivo, cê tá entendendo? Principalmente. E colocava isso como fundamental quando se tratava do amor, da relação do homem com a mulher. E meu primeiro casamento foi reflexo disso. Com Belina, uma tentativa de ignorar todo o relacionamento com o resto do mundo, e tentar me concentrar naquela paixão, naquela certeza de que aquilo ali não havia nada que pudesse destruir. Mas também começou muito intuitivo, muito… sei lá, susceptível a… às coisas que acontecem que realmente são importantes… Eu vi logo cedo que o casamento pra gente não era coisa boa. Eu fiquei casado com ela um ano e meio. Quer dizer, não era uma coisa boa… Era uma coisa boa, mas não ia… Eu acreditava que aquele tipo de vida que a gente estava estabelecendo, quer dizer, dois filhos nos primeiros dois anos de casamento, e ela confinada a uma vida doméstica, quando eu já tava partindo para uma abertura no sentido de viver no mundo da música etc. etc., quer dizer, uma contradição absurda que começou a tornar a coisa da gente triste, sem luz mais, sem brilho; e eu era muito ansioso ainda, em termos de descobrir novas relações possíveis, e o diabo a quatro, e aí a gente resolveu se separar, foi uma resolução que evidentemente foi tomada por mim, mas que de certa forma ela concordava, que não adiantava ficar numa vida sem sabor mais. Isso foi em 67, logo depois que Marília nasceu, a segunda filha. Dois anos de casado. Daí então eu fui viver com Nana e a Nana tinha os filhos dela, e a gente morava numa casa, e de certa forma a estrutura de família foi restabelecida. Voltou. A gente ficou também um tempo, e daí percebeu que não dava mais. Foi logo depois que eu voltei da Europa, em 68, na época em que o Tropicalismo começou, que eu… achei que já devia me adiantar, cê tá entendendo? Viver outras coisas e Nana tinha a família dela, o primeiro casamento dela que deixava reflexos profundos no sentido do cuidado que ela devia tomar com as crianças, dedicação… Ela já tinha uma família antes que não tinha terminado, ce tá entendendo? Então na dava muito bem, a gente se separou. E no meio de tudo isso, aquela coisa da gente exigir, de certa forma, que a mulher acompanha a gente no processo todo; e toda vez que isso não pode acontecer a gente esmorece um pouco, de uma certa forma a revelação enfraquece, e se é um casamento, acaba. Se a gente tá apenas como amigo, não tem família, dividindo responsabilidades… mas quando é família, tem que acabar aquele tipo de transação. Aconteceu em todos os dois casos, no caso de Belina primeiro, como no outro… Isso é uma visão inteiramente minha, cê tá entendendo? Elas inclusive podem não concordar com nada que eu penso… mas é uma visão muito carinhosa, muito sadia com elas. Eu não aceito nenhuma culpa que queiram me imputar no sentido do mal, de que tenha agido mal, nada disso. Os momentos em que eu tomei essas decisões eu sempre tava consciente de que aquilo era melhor mesmo, pra mim e pra todo mundo. Se era melhor pra mim, era melhor pra elas, no sentido da relação; o amor, no sentido sentimental da coisa, evidentemente é outra transa, quer dizer, que possa ficar de ranço sentimental, emocional… eu não tenho. Eu agora tive com Nana no Rio, foi uma coisa muito sadia, mesmo. Tava lá Sandra, minha mulher hoje, quer dizer… a gente, tamos vivendo num mundo moderno. E eu assumo isso mesmo, e não quero ter compromissos de retrocessos nessa área, não quero mesmo. Agora, com Sandra hoje tá legal, porque ela inclusive tá sabendo dessa coisa toda minha, dessa exigência que eu sempre tive no sentido da… qual é a palavra? Da espontaneidade, de que a gente, o casal, esteja sempre se sentindo em todas. Ela procura andar comigo. Toda vez que ela sente que tá ficando pra trás, ela se adianta mesmo. E eu também tô me adiantando, e tamos sempre juntos. E tá legal até agora, cê tá entendendo? E tô aí casado de novo.
– Você falando no Rio, com o pessoal da imprensa lá, você falando da diferença do seu trabalho com o Cae, você disse que no fundo não tem nada: “Porque a gente sabe que a gente se ama… e pronto…”
– … e amor é amor, eu não vou dizer nada a respeito. Exatamente isso. A gente se ama. Se ama mesmo. Aí, quer dizer, aí diriam os ortodoxos: não é possível um homem amar o outro. Eu dizia: é mentira, porque eu amo. Mesmo. Por quê? Qual é o problema? Inventar outro sentimento? O que eu posso, inventar outro nome? Respeito, admiração? A consideração, tudo o que eu tenho, juntar mil outros substantivos, que juntando todos cê vai somar, todo mundo acha que a palavra amor significa a forma mais sublime de sentimentos que se pode ter por uma pessoa… Eu acho que o que eu posso traduzir por sublime dentro de mim, eu tenho por ele. Então o que que é?
– E o Pedrão?
– Pedrão é genial. Pedrão só quer saber de dançar e tocar. Ouvir disco. Quer tocar bateria, violão. Principalmente bateria, é a arma dele. Ele vai na cozinha, pega as panelas, pega os pauzinhos chineses de comer que eu uso da macrobiótica, e começa a bater, faz a bateria dele. Já faz ritmo. Ele bate assim: PAM-PAM-PAM-PAM. PAM-PAM-PAM. PAM-PAM-PAM já ele fica andando passeando pela casa, PAM-PAM, PAM-PAM-PAM… engraçado, eu descobri que ele já tava fazendo esse ritmo um dia que eu fui ninar ele, eu botei ele pra dormir lá, no quartinho… o quarto dele é o mais bonito da casa, tem uma janela enorme que dá pro fundo, tem umas árvores bonitas. Então eu costumo ficar passeando com ele no quarto… eu geralmente não canto, fico só andando, porque Londres é muito silenciosa, onde a gente mora. Então ele nunca tá excitado. Mas nesse dia ele tava assim, não queria ficar coma cabeça no ombro, e levantava toda hora. Então eu comecei a cantar “Boi da Cara Preta”: “Boi, boi, boi, boi da cara preta…” e de repente ele começou a bater nas minhas costas, acompanhado o ritmo – PAM-PAM, PAM-PAM-PAM. E uns dois dias depois ele pareceu pela casa… toda hora… PAM-PAM, PAM-PAM-PAM.
– Com que idade ele tá?
– Tá com um ano e meio, um ano e sete meses… é isso.
– Ele nasceu no Rio ou na Bahia?
– Ele nasceu em Londres. Aquele foi feito e entregue, tudo lá. Sandra ficou grávida em Pesaro, na Itália… Inclusive esse negócio de ter filho, de criar, de se relacionar com ele, é negócio de uma riqueza incrível, porque você não pode… eu pelo menos não coloco pressuposto nenhum, como padrão, como modelo pra educar, então todo ato da criança é um desafio ao seu discernimento, ao como você agir. É um teste da sua tranqüilidade, você fica sabendo se você está em paz, pra não se alterar, pra não levantar a voz, pra simplesmente dizer, informar sobre uma coisa útil. Informar: dizer “não faça isso se não você se queima”, coisas desse tipo, sem nenhum pressuposto de que eu conheço a verdade e ele não conhece, cê tá entendendo? Isso é fundamental. A criança obriga você a repensar seus valores todos nesse sentido, as coisas que você tem, os conceitos que você tem sobre boa educação, bom comportamento. Inclusive você tem de modificar o próprio comportamento por causa disso. Eu acho genial criar filho. Eu gosto dessas coisas, eu troco as fraldas dele. Faço com prazer mesmo. Acho que.. lá em casa não tem esse negócio de que o pai é uma coisa e mãe é outra. A gente faz tudo junto, e é legal, e ele gosta muito da gente.
– Dá uma visão… a saída e a chegada na Inglaterra… o Guilherme dizia que o Caetano, quando chegou ficou mais triste, e você mais propenso a ver as coisas. Aí, depois, quando o Caetano tava saindo dessa, você parou um pouco.
– Mas não era uma coisa doente, eu tive um problema assim de abafamento neurótico, não quero dizer que não sou neurótico, que não tenha uma dosezinha de neurose. Então eu tinha problemas de humor. Mas a coisa é vista por Guilherme pelo lado do… sei lá, talvez ele achasse que era naquele velho esquema da ansiedade pura, digamos assim, de pré-estado da angústia, do desespero. O que não era muito, era mais um negócio de assumir o recolhimento, uma situação que era mesmo essa. Londres – como eu dizia uma vez num filmezinho que a gente fez lá – é um mosteiro ajardinado, um lugar de recolhimento, onde a gente não tem calor, não tem o sol, então é um lugar onde a gente tem que… eu por exemplo, colocava muito pra mim mesmo, como proposta, como exercício, a ser feito, a coisa de ficar calado, de falar pouco, de pensar mais, de reflexão, que tava tudo ligado à minha postura, mística, de ioga, que eu fazia, que eu cheguei lá fazendo, da macrobiótica; então eu não comia na mesa a comida que o pessoal comia, eu tinha os horários completamente diferentes, isso na época em que todos nós vivíamos juntos, cê tá entendendo? No primeiro ano que a gente teve lá. Então eu era assim um marginal, um marginalizado na casa, mas sem nenhum sofrimento, aquilo era por coisas que eu tava assumindo. O sofrimento era interior. Era uma consciência generalizada de toda a situação. O sofrimento era o fato de eu estar lá, o fato de eu ter tido de sair daqui. Era dizer: “Pôxa, eu agora estou nessa situação, eu tenho que aprender essa situação vivenciando ela inteiramente. Vencendo todos os aspectos. Não adiantava eu tentar criar uma ebulição, um feerismo que não existia. Isso que de certa forma prejudicava os planos do Guilherme, que ele não pára, aquela coisa, ele tá ali: pá-pá-pá-pá-pá-pá… Eu queria muito essa coisa de reconhecimento, no primeiro ano. No segundo ano, foi a casa aberta. Abri a casa, passou a entrar todo mundo, eu aí nem tinha tempo mais de recolhimento, nem de meditar sozinho. Eu tava sempre com todo mundo. Aí foi um ano mesmo de alegria. Isso foi até agosto do ano passado. Quando eu resolvi ir pro campo, pra fora de Londres, com Sandra, sozinho, com Pedro, Tuti e Ina, pra me concentrá em coisa de música; já era uma terceira fase, digamos assim, uma mistura entre recolhimento e extroversão; para o trabalho, para cuidar daquilo que a gente tava fazendo lá, de música.
– Você tem muita capacidade de se reorganizar, né?
– Muita, ah, muita.
– Eu queria que… dá uma visão pra gente da ascensão e o corte do Tropicalismo.
– Olha, eu… assim do ponto de vista da experiência, da minha história individual, eu acho que tá tudo certo, cê tá entendendo? Eu acho que os cortes todos foram… digamos assim, desejados ou não, providenciados por nós mesmos, por mim mesmo ou não, na verdade eles resultaram sempre bem, porque… não sei a que atribuir, talvez à minha capacidade de reagir, de assumir o corte como uma coisa que veio mesmo, que foi real, e que portanto tinha que ser assumido, quer dizer, transformar o mal em bem, se algum mal tava sendo feito. Então eu acho que, por exemplo, a descoberta do pop foi uma coisa que… foi um movimento querido, desejado, assumido, feito por mim, impulsionado pela minha própria vontade, pela minha própria consciência. O fim do Tropicalismo já não foi, foi uma coisa do destino, cê tá entendendo? De repente a gente teve que parar o trabalho, a gente foi preso, teve que sair do País. Então, já era outro fator, já era outra forma de movimento, mas que também foi positivo, o resultado taí hoje, eu reputo minha experiência lá fora como uma coisa fundamental na minha vida. Como também o Tropicalismo, a fase toda que já era muito dilacerante no fim, que já tava difícil mesmo pra nós…
– O Rogério disse que não seria possível avaliar qual seria o desdobramento do Tropicalismo…
– Não dava pra avaliar, porque já era um estado de angústia pra nós, ce tá entendendo? Já era penoso, aquela já tava difícil, a gente já tava… o programa Divino Maravilhoso era uma coisa já penosa pra gente fazer, eu reputo como um dos tempos mais difíceis, era uma carga de tensão… eu já nem me lembro. De qualquer forma, era muito angustiante, era muito… angústia no sentido psiquiátrico, cê tá entendendo?
– Você costuma se recordar bem dos sentimentos. Esse tá meio embolado…
– E era mesmo meio embolado. Era um misto de alegria… alegria não, não tinha mais alegria naquilo no fim, cê tá entendendo? Preciso ser muito sincero, a respeito disso. Digamos… os três últimos meses depois que a gente saiu da Rhodia, depois daquele programa em que morreu o Vicente Celestino, no Som de Cristal, e que a gente foi pra Tupi fazer o Divino Maravilhoso, ainda a gente foi com aquela disposição de oferecer o melhor, do sentimento, da vibração anterior da gente. Mas no fim a gente já tava quase desprovido dessa coisa, porque aí já tava terrível, a opinião pública toda dividida, prefeitos de algumas cidades do interior fazendo abaixo-assinados para TV Tupi cortar o programa da gente. Ou seja, você começa a sentir que você tá marginal, que você tá sendo visto como uma coisa monstruosa, como um câncer, e a imagem de câncer pra mim é uma coisa deprimente. E quando a gente… e eu já tava me sentindo dessa forma, cê tá entendendo? Fazer aquele programa já era um misto de obrigação com medo, com resignação, isso. Isso! Já estava resignado. Já era medroso. Já tinha paranóia. O que eu acho que foi mau, acho que foi isso mesmo. Homem é homem, ser humano é ser humano, taí pressas coisas, entende? Eu quero correr mundo, correr perigo…
– Como diz Caetano Veloso…
– … como diz Caetano Veloso.
– Como é que vocês faziam essa divisão…
– Não… não, na verdade a esperança da gente era de que a coisa ficasse boa, fosse sendo entendida, a gente não tinha aquela coisa mórbida, de querer… Inclusive me perguntaram… onde foi? Foi em Londres… uma moça me entrevistando em Londres há pouco tempo, pra Manchete, me perguntou sobre a intencionalidade da violência, se a gente não tinha realmente intenção… ou seja, não era sádica a nossa atitude, ou masoquista. Não era sádica em relação ao público, no sentido de “tá, não tá entendendo a gente? Então vamo aumentar a dose, vamo fazer pior ainda, no sentido de vocês não entenderem mais”. Também não era masoquista no sentido de “vamo ser sofredor, incompreendido”. Não era, era um misto de todas as coisas, era paranóia, todas essas coisas. Uma coisa muito difícil de analisar, no sentido de encontrar o órgão doente cê tá entendendo? A doença tava no corpo inteiro.
– … essa necessidade interior e tal, vocês acham que naquela época vocês tavam tão afastados de ser entendidos de todo mundo?
– Ah, tava sim. Tava sim. Tava. Se lembra daquela noite, dois dias antes de eu ser preso, que eu fui na sua casa… (ele se dirige a uma amiga que está assistindo a esta parte da entrevista) … que eu conversei com você, que eu falava que eu sentia – já tava o bandido, rapaz!! Procurado na cidade, eu me sentia assim. Inclusive já eram vibrações, eram vibrações mesmo da coisa, sabia que tava tudo deteriorado, que ali tinha que acontecer uma tragédia ou o milagre. Entende?
– E o Chico analisou certinho, no Bondinho, né? Falando da espécie de ódio, a diferença entre você e o Caetano…
– Ah, muito, o problema todo! A coisa toda de todo mundo dizer “não, a barba, as ventas dele…” Era uma coisa agressiva, cê tá entendendo? As ventas! Aquilo do Chico, rapaz! Eu chamei Sandra pra mostrar a ela. As ventas, narina! Eu não lhe falei que o cara perguntou: “A cara, por que a cara?” E o Chico deu uma explicação que era maravilhosa, mara-vilhosa, é mara-vilhosa. Porque era aquilo mesmo, rapaz, a visão, a coisa do mal, o problema do preto ainda no Brasil. Uma porção de coisa que não tão sendo analisadas aqui por mim… eu não tenho o menor ressentimento, eu tô fazendo, dizendo o que é mesmo. O que aconteceu prova…
– O movimento tropicalista não era um movimento só musical, né? Ele dava um corte muito vertical nas coisas…
– Exato, eu acho. Era um insight na realidade brasileira. E mais que na brasileira, na coisa do mundo todo, cê tá entendendo? O que cercava a gente, não era mais… Uma cidade como São Paulo é uma cidade brasileira, mas tem o mundo todo dentro dela, tem tudo, pôxa, o que que há? Paris tá um pouco aqui dentro. Nova York tá um pouco aqui dentro, Londres, Tóquio, cê tá entendendo? Roma, Milão tá aqui dentro. Essas coisas. E a informação de fora chegando, obrigando a gente a tomar atitudes diante disso, a responder a essa inflação de informação e etc. etc. etc.
– O Tropicalismo seria um movimento bem global; influía mesmo na maneira de ver, de sentir…
– Exato, porque ele falava dos costumes, de tudo, do comportamento. Questionava ao nível da alma brasileira. Obrigava as pessoas a tomar outras posições, a rever… então era incômodo. Não que a gente tivesse a intenção. Ela resultava dessa forma. Não que a gente quisesse incomodar ninguém pelo – como eu disse antes – pelo sadismo, cê tá entendendo? A gente começou a sentir que tava mesmo difícil, e portanto virou sofrimento.
– Era talvez um movimento na frente da realidade brasileira,se você pegar a chamada média. A média talvez não aceitasse muito isso…
– … porque era a mais posta em xeque, né? O que a gente tava questionando era exatamente esse nível médio das coisas, o nível estagnado, o nível do meio, ali onde não ta acontecendo nada. Então a gente recusava essa posição porque a gente via que era uma hora no mundo em todos os jovens, todas as pessoas responsáveis por essa Terra, por fazer dela um lugar saudável, tavam preocupadas… essa esclerose do nível médio das coisas tava preocupando as pessoas. Não só aqui no Brasil, mas em todo lugar. E eu sempre fui uma pessoa preocupada no sentido de “eu quero sempre me adiantar, quero estar sempre onde a Terra, o mundo deve estar, no sentido de cultura, a alma… a alma do mundo”, cê tá entendendo?
– E era uma coisa que se passava também dentro de vocês, que vocês também transformavam dentro do movimento…
– Ah, claro, claro! A gente tinha que assumir… A coisa era cristã, a coisa era cristã! Sim, senhor, meu irmão. Tinha que assumir o Calvário. A gente era cristão.
– Essa assumida total das coisas agredia também a gente…
– É isso. As pessoas não gostam…
– Tem pessoa que diz: eu conheci Gilberto Gil de pastinha na mão…
– É, como se aquilo tivesse sido a escolha do Céu pra minha postura na Terra. Como se o Céu tivesse escolhido que eu teria de viver de terno e gravata e pasta a vida inteira. Eu não tenho nada contra terno e gravata e pasta, tanto que eu andei muito tempo de pasta e gravata. Mas é como eu disse, as coisas se adiantam. Tudo é cíclico. A coisa é uma espiral que vai rodando, e eu não quero ficar embaixo, vendo o pessoal indo subir para os céus e eu ficar cá no inferno.
– Você não acha que a média não se acostuma com a visão das duas vidas do artista?
– A gente era o que era… É insuportável pra certas pessoas a visão do real, a visão do concreto. A visão do concreto, a visão de uma pessoa inteira ofusca, a visão da integridade é uma coisa dura, rapaz, no mundo do dual. As pessoas… pra todo lado bom tem de ter o lado mau. Então era isso. As pessoas escolhiam o lado bom meu, como sendo o que eu tinha deixado; e entendiam como mau aquilo que eu tava assumindo. Eu era visto como uma figura demoníaca, mefistofélica, com aquele bigode, aquela barba. Inclusive até hoje as pessoas têm esse negócio de dizer que eu fico melhor sem barba. Eu não fico melhor, eu fico outra coisa. Eu com barba tenho uma face, sem barba tenho outra… Eu é que não vou assumir pra mim mesmo que com barba sou o mal, e sem barba sou o bem…
– Se não houvesse o corte, você acha que assim mesmo vocês iam dar uma parada?
– Ah, íamos. Eu já tava parando. Eu ia viajar, meu irmão. Eu ia sair do Brasil uma semana depois. Eu ia pra Cannes fazer o Midem. Já tava com passagem marcada. E aquilo evidentemente ia mudar tudo. Eu já tava realmente cansado. Caetano também tava. Não posso dizer se ele recorda os sentimentos da época da mesma forma, mas eu sei que ele tava cansado, que ele tava cercado de um clima de paranóia como eu estava, isso ele tava.
– Mas, com a visão, de fora, agora, você acha que foi meio brusco o corte?
– Foi, foi brusco, porque eu fui preso. Sem necessidade…
– Foi, porque quem acha que havia necessidade ser preso?
– Pessoalmente, eu não me achava mau, cê tá entendendo? Não tava fazendo o mal, então por que devia pagar? Me chocou profundamente, me traumatizou nesse sentido, cê tá entendendo?
– A imagem que ficava do “Aquele Abraço” era de que você já tava… considerava…
– Tá legal, passa a esponja por cima porque eu tou aí… Três anos! (Dá um assobio)
– A volta que você deu… A conciliada que você mesmo, depois que voltou de Londres, você falou: “O que que eu sou, que raízes…”
– Que que eu sou, que raízes eu tenho?
– Você se atirou na experiência inglesa, não?
– É, mesmo, mesmo, porque era a única forma. Porque era a única forma de tornar aquilo uma experiência, de transformar imediatamente aquela nova situação, estranha e desconhecida, numa experiência. Ou seja, é como você diz: montei na garupa dessa motocicleta, o cara tá correndo pra burro, tá muito louco, mas agora eu tenho de me agüentar aqui em cima. Então vamos entrar… colocar minhas energias positivas, minhas vibrações no sentido de dizer – vamo lá, bicho, faz corrente comigo pra dar certo. Então eu cheguei em Londres e liguei a corrente. Digo: bom, agora eu tou aqui, uma terra estranha, eu não sei a língua. Então, primeira coisa vou aprender. Então eu fui sendo de repente bafejado por esses sentimentos afirmativos, quer dizer, em nenhum momento eu recuava… aquele negócio da mágoa em nenhum momento eu trabalhava como o dado mágoa. Eu trabalhava com o dado “vamos lá”. Vambora, precisa isso, aquilo. Era voltar à disposição que eu já tinha tido em épocas anteriores, que eu não tava esperando precisar de novo, a disposição pra reconstruir, pra reorganizar, a disposição pra ter disposição de fazer as coisas.
– Aqui talvez… você estava numa posição professoral; lá…
– Lá eu não sabia de coisa nenhuma. A assunção mesmo da humildade. A humildade passa a ser o átomo do ar que você respira. Humildemente andando, cê tá entendendo? Fantasticamente ignorado, anônimo, naquela cidade. Inclusive hoje eu tava experimentando essa sensação. Eu andando por São Paulo, por aí… eu não colocava pra mim a coisa da curiosidade do público. Eu não me colocava na situação de que tava sendo espiado, de que eu tava sendo visto. Então era um negócio de vibração, de vibration mesmo. Eu aprendi lá. Então eu tava passando na rua e dizendo: olha aí como Londres me ensinou. Como realmente me ensinou a ser anônimo, a ser uma pessoa normal, a não ter grilo, a não achar aquela coisa. Eu não era mais o demônio; não tinha mais aquela coisa de sair na porta da rua pensar: agora todo mundo vai me ver, vai ficar olhando pra mim. Paranóia mesmo; e eu tive que dizer: vamos lá, moleque, andar pela rua, estudar a língua, passar noites lá aprendendo o be-a-bá da poesia inglesa, e bater tua viola, e encontrar as pessoas…
– De certa forma uma pós-graduação no mergulho urbano e no pop…
– … Pós-graduação! Exatamente, um curso de pós-graduação. Eu tinha que ficar contente, eu tinha que achar que era bom ir pra escola. E eu ficava contente de ficar em Londres, foi muito feliz a escolha, era muito verdadeiro. A terra dos Beatles e dos Rolling Stones, isso era uma coisa verdadeira, uma coisa do meu mundo. A razão que eu tinha escolhido Londres pra ficar não era porque era uma cidade bonita, era que não estava fora do material com que eu trabalhava, ou seja, era por tudo isso que eu tava envolvido aqui. Por isso que eu tinha escolhido Londres. As pessoas que tavam ali, que eram artistas como eu, que viviam o mesmo mundo… eram importantes, tinham feito coisas fantásticas. Aquilo era como se aquela cidade fosse me passar… como se eu respirar o ar de Londres, eu estivesse respirando o clima de um novo colégio, ce tá entendendo? Era aquela sensação de primeiro dia, que você passa no vestibular e entra na escola pra assistir a aula. Tudo é meio irreal, você não conhece nada daquilo, mas você já se sente ali. Você já se sente como dono daquilo e como sendo possuído por aquilo.
– Entrou um certo fascínio de desenvolver a tua musicalidade…
– Ah, isso logo de cara. Eu já imaginava que Londres tinha isso. E quando eu comecei a ir ver os caras, e comecei a ver os concertos, os músicos tocando, e as pessoas cantando, e as lojas de discos, e o comportamento dos jovens ouvindo discos nas casas que eu ia, o pessoal comprando discos, os músicos da cidade com os cartazes, os grupos que iam se apresentar… quando eu vi aquilo tudo, eu dizia: olha aqui, eu tou num ambiente gostoso, ou tou num lugar onde eu vou poder contribuir com alguma coisa, seja pelo menos de me sentar quieto num canto e ouvir tudo o que acontece. Aquilo era uma forma de contribuir, pra eles. Contribuir pra tudo que tava acontecendo. E eu aprendi, muito mesmo.
– E você partiu pra outras…
– Foi. Foi aí que eu digo, vou fazer como os meninos daqui tão fazendo. Cê tá na maior generosidade de aceitar a estranheza do mundo deles, aquela luz, tem muito brilho, Londres é a cidade que usa melhor as cores de todas as que eu vi até hoje. Onde o uso da cor é resultado já de uma sofisticação. Não é a manifestação forte do primitivo. Londres é roxo e verde. Essas duas cores são muito o símbolo da coisa londrina, roxo… Roxo, rapaz! Roxo que no Brasil é símbolo de luto, ce tá entendendo? Roxo é cor de caixão de defunto. Na Inglaterra, roxo é como vermelho é aqui. Uma cor bonita, que combina com o acinzentado que eles têm na alma, uma cor meio desmaiada. Uma cor bonita… Tudo aquilo, tudo aquilo…
– É Nova York?
– Nova York eu já tava sabendo que era Babilônia mesmo. Da pesada. A chamada “barra do dia… barra do dia vem, o galo cocorocou, é de manhã”. Aquela coisa louca, alucinada. Nova York, puxa vida, não sei não… Eu me lembro dos cinco minutos antes da minha primeira apresentação, numa igreja, que eu tava lá no camarim, o camarim ficava embaixo, o teatro ficava em cima, na igreja de Saint Clement. Eu parado, sozinho sentado lá no camarim, com a viola assim do lado, eu pensava: isso aqui é Nova York, capital dos Estados Unidos, capital do mundo, a maior cidade… a capital de tudo. Eu já estava há uns três dias lá, eu já tinha visto aquela coisa toda, de decadência, ao lado da suntuosidade, do monstruoso, do grandioso, aquela coisa da sujeira, ao lado daquele mundo de luzes da Broadway, eu tava vivendo aquela coisa toda e eu fiquei ali rapaz, parado, tentando ver, tentando… sabe, fazendo aquele último check-up antes da corrida, aquele negócio de ver se eu estava com medo, se eu tava preparado, aquela coisa toda. E eu dizia assim: não adianta eu me preocupar, a cidade já tomou conta de mim, eu não vou definir mais nada aqui, eu já não tenho mais nenhum poder de mudar mais nada… e agora eu vou lá fazer o que eu posso, eu não tou trazendo nada pra aqui além de mim mesmo, eu não tou falando nada em lugar de ninguém mais que não seja eu, então eu vou ficar tranqüilo, pôxa. E aí eu fiquei tranqüilo, sabe? E foi bom, porque aí eu fiz o que eu podia fazer, e aí tava legal, foi um dia bacana, a igreja tava cheia de gente, tinha um bocado de brasileiros…
– Que público era, hem?
– Esse primeiro dia era um público de 70% de brasileiros e 30% de americanos, misturados com porto-riquenhos etc., inclusive era no bairro porto-riquenho. Então quando eu saí da igreja eu saí tranqüilo mesmo, saí pra ver tudo com carinho, aí já estava gostando mesmo de Nova York, aí já não tinha medo de mais nada, de ser assaltado na rua, de andar no metrô. Era como se aquelas pessoas que tinham aquela carga de terrível com elas, que a gente sentia nas feições, nos olhares, e tudo, eram terríveis, mas eram reais, eram muito concretas, era como … sei lá, rapaz, eu dizia: pôxa vida, pronto, tou aqui, agora vamo lá, e então não me surpreendia nada da coisa de Nova York, embora fosse extremamente surpreendente, porque era novo. Eu nunca tinha visto uma violência daquela, a violência da forma, em lugar nenhum, as ruas, as casas, os carros na rua, agressivos, os táxis, tudo quebrado, tudo meio amassado, tudo meio… tudo meio… efêmero, tudo meio transitório mesmo. O trânsito de Nova York é o trânsito, o tráfego total, de pessoas, de coisas e de emoções. Village, aquela coisa belíssima, e ao mesmo tempo a decadência, tudo misturado, eu já não me colocava… era uma posição madura, era uma postura bem amadurecida…
– Um amadurecimento londrino, né…
– É, um amadurecimento londrino. Eu sabia, por exemplo, na época que eu saí do Brasil, que seria tudo inteiramente diferente, eu ia estar comprometido… eu sabia que eu não ia estar relaxado o bastante, por isso que eu não quis ir pra lá. Eu sabia que lá eu ia ficar meio tentado ainda a restabelecer o ciclo de emoções que tinha vivido aqui. Quando, partindo de Londres pra lá, já não tive nada disso.
– Era a mesma sensação do on the road na Inglaterra?
– Não, não era. O que eu tava fazendo em Nova York não tinha a menor importância. O trabalho de Londres, não, o trabalho de Londres, essa primeira fase, on the road, era um trabalho importante, era um trabalho que… tudo, o carregar a perua com os instrumentos, tudo me ensinava, tudo ensinava, tudo era uma relação de eu estar vendo aquilo, de repente vinha na minha cabeça assim: os Beatles fizeram isso, Jimi Hendrix também fez isso, eles também passaram por essa experiência, eu ia tocar no Markee, então eu dizia: puxa vida, Mick Jagger cantou nesse palco, era como se houvesse a própria impregnação daquilo tudo. Nova York eu cheguei sem nada disso, rapaz, eu cheguei… era só aquela coisa grande, enorme na minha frente, e eu fiquei pequeno mesmo… Era de se esperar, pelo significado de Nova York, que a minha experiência lá fosse mais densa. Mas não foi, ou seja, de mim para as coisas da cidade não era, era como se eu me deixasse ser tomado pela densidade dali. Em Londres, não, em Londres era pouco exigente a minha posição, eu queria que as coisas me respondessem, que as coisas me dessem informação, eu queria que as minhas atitudes… aquela coisa que eu contei do dia que eu tava tocando numa cidadezinha do interior, e que o cara de repente começou a gritar…
– Numa sexta-feira…
– Sexta-feira da Paixão, e que o cara começou a gritar: “hey man, give us some real fast thing”, e eu aí eu parei de tocar e perguntei a ele: o que é que você quer? Ele disse: “Quero que você toque mesmo essa guitarra, mande brasa”. Ele tava pedindo Jimi Hendrix, sei lá, uma coisa desse tipo, alguma coisa que a gente reconheça, que já esteja no nosso código. Aí virei pra ele e disse: “Mas eu não posso, meu nego, eu não sei fazer isso que você tá pedindo, eu só sei fazer o que eu sei fazer, eu vim aqui pra mostrar a você isso”. E de repente uns 4 ou 5 garotos que tavam sentados atrás foram discutir com ele, e aí o Guilherme disse: “Vai Gil, toca, vai lá, vai lá”. O Macalé tava tocando comigo nesse dia, e aí a gente mandou o pau e de repente saiu um negócio alucinado, que a garotada toda se alucinou, e começou a dançar e aí a gente levou mais uma meia hora fazendo um negócio assim sem discussão… smashing… blááááá… cê tá entendendo? E acabou o papo. Então Londres tinha isso, era um exercício de alguma coisa.
– Não era uma escola formal…
– Não, não era, era uma coisa onde realmente eu aprendia, e onde eu pedia nota mesmo,não através de aplausos, de sucessos, mas disso, de informações como esse garoto discutindo comigo, dizendo a mim que eu não tava legal. Me enriquecia, eu chegava em casa com disposição nova para fazer outra coisa já no outro dia, cê tá entendendo? Então era um trabalho de aprendizado mesmo, enquanto Nova York foi uma experiência isolada, um mês só, não tinha essa característica de processo. Agora eu falei melhor sobre isso, agora eu entendi um pouco mais porque eu sou engraçado, rapaz, eu entendo e fico conhecendo as coisas quando falo, quando digo.
– Você também não tinha vontade de impingir nada, não é?
– Exato, a humildade, digamos assim era o átomo do ar que eu respirava. Eu tava na Inglaterra cercado daquela humildade, eu tava ali mesmo pagando todos os meus pecados, eu tava ali purgando, aquilo era o purgatório, cê tá entendendo? Eu queria que vocês dessem ênfase a esse aspecto, o lado que o pessoal não acha muito que teve, acha que a gente tava lá querendo tirar de grande, não era nada disso, não. Eu, pelo menos, tava ali purgando mesmo.
– E o pior é que enquanto isso o próprio mundo pop passava a sofrer restrições, do sistema, né?
– Ainda tinha esse fator, é; eu no meio daquilo tudo, vivendo uma experiência de plenitude de um processo que já não era pleno, que já tava decadente. É, tinha o fator de não poder haver superação porque o próprio processo já não oferecia possibilidade de superação, não só para os que já estavam tranqüilamente instalados nele, muito menos pra alguém que tava começando. Então era tudo isso, era o aprendizado. Ver o que havia de movimento no processo e o que já havia de estagnação.
– Você é um cara que tá trabalhando pra burro aqui e você voltou plenamente voltado pro trabalho, não é?
– É, você tá sentindo porque você tem acompanhado a mim nesses 4 ou 5 dias que eu tô aqui, se a gente for fazer um apanhado… Se você for fazer uma contabilidade desses cinco, seis dias que eu passei aqui, você vê que relaxadamente, sem angústia, e sem ansiedade, tô trabalhando, tô realmente fazendo… já fiz mil coisas.
(No dia seguinte, no Rio, na casa de um amigo, na Gávea).
– Vamos tentar repegar o negócio: gostaria que você voltasse um pouco ao clima de sexta-feira que você chegou ao Brasil, da verificação que você fez, eu sou assim, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro até chegar onde você…
– Sei lá… de repente essa coisa de tentar fazer os troços lá fora e esse afastamento do mundo básico da gente… esse negócio de perguntar tudo o que a gente já não sabe mais direito, qual a função que a gente tem, se a gente tem que ter alguma função. Essa coisa de se atribuir importância, ou não, e em que área das suas possibilidades de criação você deve se concentrar. Quer dizer, tudo isso é uma coisa que começou a me preocupar muito ultimamente lá em Londres. A minha relação com a coisa brasileira, em que termos eu deveria me colocar diante dessa situação confusa, embaraçosa e indefinida pra quase todo mundo. Essas perguntas povoavam a minha mente o tempo todo, no sentido de que aquilo devia passar o nível da preocupação, da especulação, pro nível da atitude tomada mesmo… Traduzida no movimento que você faz, ou seja, numa mudança delugar, numa mudança de postura. Eu resolvi de repente vir ao Brasil exatamente por causa disso tudo, porque não havia condições de, permanecendo lá fora, responder a essas perguntas: o que é que eu sou realmente, o que eu tou querendo ser, o que é que deve restar do que eu fui antes, daquele Gilberto Gil comprometido com aquelas coisas todas, com aquela confusão…
– Aquela bola de neve…
– Se aquela bola de neve tinha se dissolvido, se tinha parado, se era conveniente que ela encontrasse um terreno plano onde tivesse possibilidade de não mais rolar abruptamente da forma que vinha rolando. Inclusive já não interessava mesmo. É o problema das energias desgastadas, da confusão, da má interpretação, do ódio, daquela coisa toda que a gente de uma certa forma capitaliza contra a gente, aquela coisa de dizer: bem, eu não tenho culpa de coisa nenhuma, eu realmente não quero ter, não tou aqui pra colocar mais lenha numa fogueira que já não interessa queimar, que já ta quase nas cinzas, que já não produz o calor necessário, energia, essa coisa toda, eu não diria que são dúvidas, que eu estaria duvidando de nada, porque a dúvida é um sentimento muito perigoso, um sentimento muito brecante, muito asfixiante, e não é dúvida exatamente o que eu tenho. Eu voltei mais pela certeza de que precisava dessas respostas. As perguntas eram mais causadas pela certeza de que realmente aqueles esquemas velhos dentro da problemática que constituía o nosso trabalho aqui no Brasil antes, estavam gastos. Então é como eu falei naquele dia: o que eu sou – sou cantador, sou cantor, sou um cara responsável por modificações em termos de coisas brasileiras, da música brasileira, do samba, do baião, do frevo, quer dizer, eu tenho alguma autoridade, eu posso me arvorar a dizer coisas – eu devo falar, ou devo me calar, e me concentrar mais no meu trabalho com a música? A palavra ainda é necessária no sentido de que os nossos admiradores esperam, no sentido de uma liderança que nos foi colocada na mão, um pouco sem que a gente tivesse certeza do desejo dessa liderança, sem que a gente tivesse certeza de que era isso mesmo, que era esse o papel. É muito difícil falar, porque realmente só agora, tando aqui, é que eu vou saber. Essa coisa de eu sair por aí, por exemplo, entrando pelo sertão adentro, não tem nenhuma característica vampiresca, é mais uma continuação daquela atitude humilde assumida em Londres. Estou com 29 anos e sou um homem de dados, eu preciso de dados mais profundos, mais próximos, das coisas de onde eu provenho, do mundo de onde eu saí, pra saber exatamente até que ponto eu devo me afastar dele ou até que ponto deu devo chegar mais perto dele.
– Até que ponto as coisas que passaram por dentro de você te afastaram…
– … ou me aproximaram mais ainda. Então é preciso vir, é preciso chegar e ver. Eu quero ir porque eu quero saber até que ponto eu posso me comunicar com essa gente simples, porque isso vai definir os termos da minha própria simplicidade. Se eu tenho que assumir posições mais sofisticadas, digamos, como os músicos compositores brasileiros assumiram há alguns anos. Se há vanguarda ou não em termos de música agora, considerando que há algum tempo eu tava incluído no processo de trabalho que era considerado vanguardismo no Brasil. Quer dizer, o que restou disso tudo? O que que ficou, o que foi revisto, o que que na revisão permaneceu, o que que foi embora principalmente, porque eu desconfio muito de que há certas coisas que realmente estão encobertas ainda, dentro da minha personalidade. No sentido da personalidade conhecida, manifestada no trabalho que chega ao público através das músicas. Então é isso, entrar por aí, ver as pessoas. Por exemplo, eu chegar e não querer fazer logo qualquer coisa, é uma atitude cuidadosa, é mais um zelo por mim e por todos, no sentido de primeiro conversar com elas pra depois fazer as coisas juntos e essas coisas serem mais de nós todos do que de mim só. Aquela coisa, rapaz, de eu ficar sozinho lá, com meu violão, e com minhas lembranças e com as minhas saudades, e com meus desencantos, meus novos encantos etc., me trouxeram essas questões de origem, de raiz, de célula-mater à qual eu pertenço, coisas desse tipo, negócio da brasilidade, negócio da verificação desse fator, o homem brasileiro, o homem da América Latina, o que isso significa, hoje que eu conheço a Europa e sei que dali a agente teve uma série de coisas impregnando a nossa cultura, quer dizer, sabendo que a nossa cultura é mais jovem, menos madura, tudo mais, ce tá entendendo? Essa imaturidade é um dado positivo, tem-se que trabalhar em cima dela ou recusar essa imaturidade e amadurecer junto com ela. Ou simplesmente cortar ou admitir os valores da maturidade européia, da americana, que de certa forma já estão estabelecidas, de certa forma, poderiam facilitar o teu trabalho, cê tá entendendo? No sentido de se fazer carreira. Se tornar o artista dentro dos esquemas conhecidos, ou tentar uma coisa nova. Evidentemente, as pessoas devem dizer: “Isso é ingênuo de sua parte, porque cê tá sabendo que as duas coisas são diferentes, você é diferente daquilo lá porque Brasil é Brasil, América Latina é América Latina, é necessariamente diferente, é outra cultura”. Eu sei, mas também a gente sabe que no mundo moderno, no mundo de hoje, tudo ficou muito misturado; a gente sabe que essa autenticidade, essa originalidade que a gente admite ter na verdade não é muito mais do que um filho, um rebento da coisa européia que foi trazida pra cá, e da coisa americana agora nos últimos anos, nesse século. Até que ponto a gente deve, nos Estados Unidos, fazer uma coisa conscientemente nossa, isolada, só da gente. Até que ponto, atitudes como a de João Gilberto são mais positivas que as do Sérgio Mendes. Ou o que há de negativo em uma ou em outra. Tudo isso, cê tá entendendo? Embora eu já tenha cá com meus botões uma certa idéia do critério, uma certa idéia do valor das coisas. Eu tenho minhas preferências em termos de ver nos outros a atitude que eu deveria tomar. Por exemplo, quando vejo duas coisas como João Gilberto e Sérgio Mendes, eu tenho a minha síntese. Eu sei, digamos assim, de que parte a coisa vem mais pra mim, de onde é que a minha alma absorve mais o ensinamento, o dado, a informação. Mas é tudo complicado, então é uma fase mesmo de espera. Eu tô esperando que a minha alma amadureça de novo, porque é como se ela tivesse renascido e estivesse muito jovem, nessa confusão toda. Porque foi muito confusa essa coisa toda, e embora não haja arrependimento nenhum, não haja consciência culpada em termos de todo o passado, pelo menos há a consciência do desgaste; eu sei que tá tudo desgastado mesmo, e que a insistência sobre certos valores seria ingênuo, seria inútil.
– Tem uma outra coisa que você também abordou outro dia: era uma síntese sua dos seus ídolos; uma pessoa disse: “Ah, você certa vez disse que quem te influenciou foi fulano e fulano e beltrano”, e você citou novamente The Beatles, Luís Gonzaga…
– É… Luís Gonzaga…
– … até teu interesse hoje por…
– … por uma coisa como Miles Davis entende? Eu cito Miles Davis como exemplo, aquele tipo de música que nasceu exatamente dessas questões todas, eu acredito. Dessas dúvidas todas. Uma coisa de música livre, de música aberta, de música de integração, principalmente levando em conta essa diminuição das distâncias internacionais, cê tá entendendo? Essa diminuição das distâncias entre as culturas, essa quase uniformização do mundo moderno, em termos do consumo e da comunicação e etc. etc. etc. Quer dizer, então era preciso que a coisa fosse feita na medida em que se concorde que essas coisas são reais, que há realmente uma maior uniformização do globo, em termos de futuro etc. É preciso então que os fatores reais, digamos, que diferenciaram até hoje cultura pra cultura, país pra país, música pra música, comecem a ser trazidos pra uniformização concreta. Essa música que se faz hoje nos EUA, da qual Miles Davis seria uma espécie de líder, uma espécie de iniciador, é uma música que tenta exatamente isso, integrar tudo, cê tá entendendo? Ritmos, formas, patterns brasileiros, com patterns americanos, com coisas européias, indianas, africanas. Não que se tenha idéia do que seria um produto híbrido de tudo isso, que se tenha a fórmula, ou a cor desse produto, ou o som dessa nova música. Não! Não se sabe, mas sabe-se que é a junção desses fatores diferentes. Que essa uniformização vai resultar numa coisa diferente. Pode parecer caótica, desequilibrada, a princípio, mas naturalmente irá procurando seu leito – a cuíca vai chegar junto da guitarra elétrica, junto das coisas todas. E as sonoridades, as novas possibilidades de arrumação, os novos arranjos, as novas permutações vão ser possibilitadas, entende? E aí vai, evidentemente, caber à inteligência, ao talento, à boa vontade, à saúde mental, à energia e todo mundo, o surgimento de uma nova coisa. E eu acredito que essa é uma coisa que, embora muito difícil de ser iniciada no Brasil, deveria ser. Uma coisa que ainda não seja eu e os da minha geração, ainda que não sejamos nós a iniciar, eu acredito que breve os outros que tão vindo aí, vão partir pra essa coisa, cê tá entendendo? Uma coisa que foi o jazz e a liberdade do jazz que ensinou, que possibilitou alguns anos atrás. Quer dizer, hoje em dia tanto é necessário esse lado, como é necessário o oposto, esse pouco que eu tô fazendo agora – o de sentar com as coisas que são já manifestações puras de forças da natureza, cê tá entendendo? Com o homem do nordeste, com a música dali, com o homem de morro, com a música dali, cê tá entendendo? É preciso chegar perto das células. É isso que eu acho hoje. É preciso chegar dentro de cada célula, e dali de dentro partir pra… pra reunião de todas elas, pra possibilidade de integração. De todo esse universo… porque a coisa ta ficando universal, rapaz, a coisa de música, principalmente, tá ficando cósmica, cê tá entendendo? Tá ficando mesmo. A forma de impregnação da alma, do espírito, pelo som… no mundo moderno, depois dessa coisa de superdesenvolvimento da música… Tá levando a gente pra regiões além da atmosfera, cê tá entendendo? Fora já da … do campo de gravidade da Terra. E isso é aquilo que eu falei, a falta de gravidade, a falta de gravidade é uma coisa patente, hoje em dia, em termos de arte, e de música de manifestação de linguagem, então é preciso que a gente encontre de novo a possibilidade de polarização, é preciso que a gente encontre de novo campos de força, novos campos de força, que possibilitem novos arranjos, novas permutações… Miles Davis, pra mim, no palco, fazendo a coisa – eu o vi duas vezes – ou nos discos, usando o poder catalisador que ele tem, e o talento de músicos que tocam com ele, que vêm de várias regiões do globo, e etc. etc. Cê tá entendendo? É uma coisa positiva, no sentido de manifestar os primeiros movimentos dessa nova visão, dessa nova necessidade. Eu acho que é isso aí… pô, isso foi uma coisa que eu gostei, que eu falei direitinho… é uma coisa que eu acho mesmo.
– Você é uma pessoa sempre voltada pra sínteses, né Gil? Você…
– Sou muito… e sou muito preso à idéia de unidade. A idéia de unidade, pra mim, é uma coisa do universo. O universo pra mim é uno, é integral. A idéia de caos é uma coisa que eu entendo, que povoa meus sentidos, a minha razão e o meu discernimento, mas a idéia de unidade é o sintoma básico da minha alma, entende? Mesmo. Isso talvez por formação religiosa, cê tá entendendo? Pelos valores, digamos, morais e… religiosos e tudo, que forjaram a minha personalidade. Que, digamos assim, foram os instrumentos com que eu exercitei a minha inteligência, cê tá entendendo? Mas eu sou muito, eu necessito muito mesmo da síntese – só a síntese é que me explica. Eu sou muito pequeno, é isso que eu acho. Eu sou muito pequeno quando me coloco em termos de universo. O universo e eu, eu sou o pequeno, o universo é que é o grande, cê tá entendendo? Eu coloco nesses termos. Então a necessidade de… a unidade é a única maneira do encontro, é a única coisa possível mesmo.
– Gil, uma sensação muito boa é a de que você assumiu tudo, né?
– É que eu resolvi virar uma antena ou um pára-raio, cê tá entendendo? E deixar bater tudo quanto é força da natureza que puder bater – homens, pensamentos, palavras, fatos, visões, imagens, tudo, tudo, tudo, sensações…
– Você se abriu de uma maneira…
– … a mais completa, mais total, porque eu já não posso me resguardar, entende? Eu já não consigo me resguardar, já não consigo… economizar o meu espírito e a minha alma pra um investimento localizado em termos de “eu vou me poupar” porque eu agora vou ser um escritor, eu vou me poupar porque eu vou ser um homem religioso, vou me poupar porque agora eu vou ser isso, ou vou ser aquilo, me poupar porque agora vou ser um músico… cê tá entendendo? No sentido de poupança e investimento, uma coisa determinada circunscrita. Eu não tenho nada disso… Não é que eu não tenha, eu tenho tudo isso, mas eu não quero, eu não consigo, eu… sei lá… eu abri de mais, abri mesmo a coisa toda dimensionei muito pra o sentido da largueza, mesmo, cê tá entendendo? Dimensionei muito mais dentro da possibilidade infinita, do que da possibilidade… isso! É a coisa da unidade mesmo. A unidade pra mim é vista não no sentido do número um, mas no sentido do… do número infinito, cê tá entendendo? O sinal infinito… da soma das unidades… é… mesmo, mesmo, mesmo… é isso mesmo.