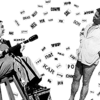Ilumencarnados seres

capinan
Entrevistas
Ana de Oliveira: Capinan, fale um pouco sobre a sua atuação política na década de 60.
Capinan: Quando entrei na Faculdade de Direito, me engajei no Partido Comunista. Até mais ou menos a década de 70, ainda me sentia ligado ao Partido. No Centro Popular de Cultura (CPC), trabalhei como ator e autor. Foi nessa época que escrevi a minha primeira peça de teatro, musicada por Tom Zé, que também era do CPC. A partir dessa militância, nunca mais pude desvincular a cultura da política. Pra mim, a função da poesia era revelar o mundo nas suas estruturas. Mas, mesmo no CPC, nunca pensei que houvesse uma prevalência do político sobre o estético.
Ana: Havia diferença entre a atuação do CPC na Bahia e em outros lugares?
Capinan: Sim. No CPC da Bahia, tanto Brecht quanto Kafka eram considerados literatura crítica do mundo. A presença de militantes comunistas pressupõe uma visão fechada do mundo, não é? Mas isso não corresponde à história dos intelectuais do Partido, desde a década de 40. Jorge Amado, por exemplo, é um dos primeiros comunistas a defender a liberdade de religião e o candomblé, o que no seu tempo já provocou um cisma.
Ana: Você teve que fugir pra escapar da prisão. Como foi isso?
Capinan: Fui indiciado e respondi a inquérito policial militar por causa da minha peça O Bumba-Meu-Boi, musicada por Tom Zé, que levamos na Bahia e, se não me engano, também na Paraíba. Mas a ação era basicamente em Salvador.
Ana: Onde você se refugiou da prisão?
Capinan: Em Salvador mesmo, na casa de Dulce Lamego, uma professora da Escola de Dança. Depois na casa dos meus pais, no interior. Fugimos eu, Arildo Deda e Luís Lamego. Um episódio folclórico da época é que o meu pai, na cabeceira de uma mesa em que estávamos eu e meus onze irmãos, disse uma vez: “Comunista quer transformar o mundo, mas na hora em que a coisa pega ele corre é pra casa do pai…”
Ana: Como se deu a sua aproximação com os demais membros do então chamado grupo baiano?
Capinan: Na época do CPC. Caetano chegou a escrever uma canção pra uma escola de samba que estava sendo criada no CPC, que aliás não saiu. Nem Gil nem Caetano eram militantes do CPC, mas, como aquilo era um centro de produção intelectual de jovens, todos ficavam ali por perto. Tom Zé e diversos jovens educadores e cineastas, Orlando Sena, Geraldo Sarno. Este veio a ser mais tarde o primeiro diretor de curtas-metragens com preocupações sociológicas. A Bahia era uma muvuca cultural.
Ana: Havia oposição entre a vanguarda e as esquerdas?
Capinan: Nas revistas culturais da época, por exemplo, não existia essa oposição. A vanguarda era como que a vocação da esquerda. A discussão sobre poesia concreta era aberta. Arte engajada não significava arte sem preocupações formais.
Ana: Quais foram as principais influências na sua formação?
Capinan: Nasci no interior, numa casa sem livros. Me eduquei nas ruas de Salvador, driblando a estrutura arcaica da minha família, ouvindo literatura oral e rádio, lendo gibis e assistindo a filmes populares no cinema. Eu precisava da arte como libertação, inclusive política. As coisas do mundo foram chegando meio aleatoriamente pra mim. Li muito na biblioteca de um colega da Faculdade de Direito, Hamilton Nonato, que morava na frente de casa. Gonçalves Dias, Castro Alves… Mergulhei mais fundo na poesia moderna quando entrei no CPC. Foi quando entrei também na Escola de Teatro. A militância me abriu a visão. Além dos trágicos gregos, comecei a ler Brecht, e me fascinou a forma como ele pensava a relação entre ator e platéia.
Ana: Que poetas te tocaram mais fundamente?
Capinan: Foi João Cabral de Melo Neto que mais me fez a cabeça durante muito tempo. Me sintonizei mais facilmente com a linguagem dele por causa de uma referência comum: a literatura de cordel.
Ana: Você estava integrado ao projeto tropicalista primordialmente como letrista da canção popular. Mas como se dava a sua participação no plano político-filosófico?
Capinan: Quando digo que não houve no Tropicalismo/Tropicália uma coisa tão programada, não quero dizer que não houve uma rede de intencionalidade. Mas que foi muito diferente do CPC, por exemplo. Eu e Gil já tínhamos sentido que a geração que surgia precisava de um potencializador da sua emergência e não sabia como lhe dar forma. Essa geração era uma platéia de grandes músicos que mais tarde estariam nos festivais: além de Caetano e Gil, Nara Leão, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Rogério Duarte, Edu Lobo, Francis Hime… Sérgio Ricardo, por exemplo, que já tinha trabalhado com Glauber Rocha fazendo a trilha de Deus e o Diabo na Terra do Sol, achava que essa coisa nova tinha que ter uma cara nordestina. Eu, Gil e Sérgio nos reunimos muito em busca do que faltava, do que substituiria, de certo modo, o CPC e o Opinião. Caetano fala de algo forte em relação ao filme Brasil Ano 2000, de Walter Lima Jr., do qual eu e Gil fizemos letra e música…
Ana: Saindo dessa fase de aquecimento, que fatos você considera essenciais para o surgimento da Tropicália como movimento organizado?
Capinan: Os festivais. Aí o que faltava começou a aparecer, mas não num movimento unificado, e sim polarizando as diferenças entre todos os que estavam buscando a coisa nova, independente da militância de cada um, existencial ou política. Os festivais superexpunham o que estava enrustido. A tendência virava expressão. Aí sim as forças internas da música popular brasileira puderam intervir na vida política, social e estética do país.
Ana: Nesse contexto, como ficava a questão do nacionalismo?
Capinan: Essa questão entra de forma muito forte e muito equivocada também. Era uma grande limitação dizer que os tropicalistas tinham engolido o vírus transformista da música internacional e que tinham perdido a relação com a cultura nacional. Eu era comunista, lutava contra a ditadura, mas era internacionalista. O meu comunismo veio da vanguarda, do surrealismo, de Picasso, do cinema neo-realista… A força tropicalista era como se a gente tivesse processado toda a nossa juventude num movimento que escoou tudo num rio de muitos afluentes: Tom Zé de Irará, Gil de Salvador, Caetano de Santo Amaro da Purificação, e muitos outros. Um rio que veio mais cheio do que a maré de informações internacionais… Que aliás não eram tão alienadas, porque há algo na cultura arcaica do interior que se liga à cultura internacional por uma raiz humana e histórica. Esteticamente, isso tem a ver com elementos medievais, orientais ou indígenas presentes na história da cultura brasileira. É muito mais fácil um garoto de Pernambuco se filiar ao Tropicalismo ouvindo um som tropicalista, porque percebe aí a sua identidade, no sentido mais existencial.
Ana: Junto com Torquato Neto, você chegou a escrever um programa especial de TV intitulado Vida, Paixão e Banana do Tropicalismo, não é? Que formato tinha esse programa? Destinava-se a quê? Por que não foi ao ar?
Capinan: Até hoje acho que só um delírio revolucionário tropicalista poderia pensar num programa como aquele. Fizemos o roteiro na casa de Zé Celso Martinez Corrêa, que era o diretor. Era um painel delirante. Em Verdade Tropical, Caetano se refere a esse programa como algo suicida, impossível de ser produzido naquela época dentro da televisão. Lá estavam claramente a questão das guerrilhas e uma citação de Che Guevara, que tinha acabado de morrer. Era prioridade continental acabar com as guerrilhas. Mesmo sendo comunista, eu não era a favor delas, mas admirava a pureza romântica de Che. Grande Otelo era o apresentador. E era um musical, com Luiz Gonzaga, Vicente Celestino… Era uma idéia rebelde, que não deixava nada em pé. E não por desamor. Porque o Tropicalismo não dizia “Estamos criticando vocês”, e sim “Somos filhos disso tudo, e não somos melhores, apenas discordamos disso com afeto”. É a melhor coisa pra expressar esse sentimento. Talvez eu tenha aprendido isso com a interpretação de Caetano para “Coração Materno”, de Vicente Celestino. Não é paródia nem rejeição. Quando isso emocionava a gente da minha casa, eu estava presente e gostava. Assim como, menino, gostava de rumba, que pra mim era música brasileira. “Soy Loco por Ti, América”, é isso.
Ana: Essa canção, cuja letra é sua, parece ter cumprido, no plano estético, o propósito de integrar toda a América Latina. Era essa a sua intenção com a letra, que entrelaça português e castelhano?
Capinan: A minha intenção era registrar a emoção pela morte de Che Guevara. Não quis dizer que eu era latino-americano, embora me sentisse assim. Sentia Cuba desde a revolução de Fidel Castro. Quando menino, tentava cantar rumbas e boleros em castelhano. E o carnaval baiano tinha muitas versões de rumbas pra frevo, não é? Na letra, busquei palavras do português e do castelhano que não demonstrassem ser de línguas diferentes. Algumas palavras me pareciam sonoramente mais poéticas em castelhano do que em português. Lembravam Federico García Lorca. Além disso, havia a coisa de uma estética do continente, numa época em que as diversas questões de cada país se aproximavam muito. Uma latinidade de mundo alternativo…
Ana: O disco-manifesto da Tropicália tem na abertura e no desfecho canções de referências fundamentalmente católicas: “Miserere Nobis”, sua e de Gil, e “Hino ao Senhor do Bonfim”. Qual a razão de a Tropicália tematizar a religiosidade devocional cristã?
Capinan: Essa pergunta é básica, porque nunca me dei conta de quanto dialoguei com os valores cristãos da minha formação. Me chamo José porque nasci em 19 de fevereiro, deveria ter nascido em março. Meu padrinho é São José, e quando começo a ter consciência crítica, política ou estética, estou sempre interrogando a Santíssima Trindade, a existência do Inferno, o pecado, a culpa. A foto que Gil segura na capa do disco é da minha formatura em pedagogia. Meu pai queria que eu ficasse ensinando no interior, mas voltei pra fazer o vestibular. É com a universidade que vêm todas as militâncias, e o meu contraponto é a religião. Acho que são aquelas interrogações da “Procissão”, de Gil…
Ana: Curioso é que o disco tenha sido como que emoldurado por essas duas canções. E ambas terminam com tiros de canhões, referência às guerrilhas…
Capinan: O “Hino ao Senhor do Bonfim” é belíssimo. E a “Miserere Nobis” tem a coisa dos repentistas, “be-re-a-bra-ze-i-le-zil” e “fe-u-fu-ze-i-le-zil”. O soletrado encobre o fuzil. Na agência em que eu trabalhava, um guerrilheiro chegou a me procurar pra que eu me incorporasse à guerrilha. Respondi que, apesar da minha admiração, não conseguiria atirar em ninguém. Eu era do Partido Comunista, constitucional, diferente do PC do B, que pregava a guerrilha.
Ana: A sua canção “Gotham City”, em parceria com Jards Macalé, foi tremendamente vaiada no Festival Internacional da Canção (FIC). Que aspectos teriam levado o público a tal reação?
Capinan: Essa geração, que se achava politicamente correta, tinha perdido na verdade a ligação com o humanismo mais radical do início do século. Era uma esquerda que não aceitava a guerrilha nem uma estética mais inconformada, só coisas orientadas ou doces, que representassem a pureza da música popular brasileira, como “Luciana”… Mas a interpretação de Macalé era provocativa demais pra eles.
Ana: Por favor, explique a sua seguinte metáfora, meio paráfrase de Vinicius de Moraes: “O Tropicalismo quis e conseguiu ser uma chuva de verão que alagasse infinita enquanto durasse.”
Capinan: Desde o início, achava que o Tropicalismo não deveria ser uma estética nem uma escola. Sempre detestei escolas, porque de certo modo sempre fui vítima delas. Na frase, sinalizo a virtude tropicalista de ter sido uma coisa que teve a sua vez, cumpriu muito bem a sua função e tirou o time. Era a peça que faltava no quebra-cabeça daquele momento.