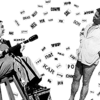Ilumencarnados seres

gilberto gil
Entrevistas
(Parte 1)
Ana: Em que medida os contatos com a cultura popular de Pernambuco e com os Beatles motivaram a sua iniciativa tropicalista?
Gilberto Gil – Eu tinha passado um mês no Recife. Em Caruaru, tinha conhecido as cirandas e a Banda de Pífanos. A característica nordestina forte que Pernambuco concentra muito bem tinha me tocado fundo no sentido de buscar ao mesmo tempo a especificidade e a diversidade da coisa brasileira. Mas eu também ouvia os Beatles, e nesse momento saía o Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que me impressionou muito com o arrojo e o experimentalismo de George Martin. Esse disco me deu a sensação de compromisso com a idéia de transformação, de que a música ia além do que tinha se decantado em nós a partir do convencional. Também é dessa época o nosso primeiro contato com as vanguardas da música, as artes plásticas de Hélio Oiticica e Antônio Dias, o Cinema Novo de Glauber Rocha, o Teatro Oficina de Zé Celso. Tudo isso fazia latejar na nossa cabeça e no nosso coração o senso da aventura.
Ana: Tudo isso foi muito inspirador, mas o que mais impressionou você foram mesmo Pernambuco e os Beatles…
Gil: No meu caso, foram as duas coisas básicas. Voltei do Recife e conversei muito com Caetano, Torquato, Capinan, Rogério Duarte, sobre estimular no Brasil uma busca mais arrojada e também mais polêmica. Achava que a gente devia chacoalhar os extratos convencionais. Pensei então em convocar uma assembléia de artistas.
Ana: Como foi essa assembléia de artistas?
Gil: Espalhamos a notícia pra todo mundo. Em princípio convocamos as pessoas que estavam no Rio de Janeiro: Chico Buarque, Edu Lobo, Sidney Miller, Sérgio Ricardo, Paulinho da Viola. O entusiasmo com o meu modo de pensar ficou restrito aos mais próximos: Torquato, Capinan, Caetano. Os restantes reticenciaram. Uns por razões político-ideológicas. Engajados na luta antiimperialista, diziam que a gente era tutelado pela cultura americana e pela cultura de massa. Outros por razões puramente estéticas, junto com certa ojeriza a coisas estrangeiras. A maioria até mantinha aproximações com o jazz e outras formas internacionais, sobretudo americanas. Mas tinham muita dificuldade em se aproximar do rock, que era então o que mais nos tocava. Por isso, houve uma não adesão da parte deles, quando não uma rejeição profunda mesmo, e em outros casos um não envolvimento e reticências.
Ana: Que papel tiveram os festivais de música na origem do Tropicalismo?
Gil: Havia um clima muito forte de música nova no Brasil, criado pela Bossa Nova, instigado pela Jovem Guarda. E a expectativa era que os festivais fossem um espaço privilegiado pra novas propostas. Aí era possível começar a experimentar aquilo que a gente queria. Caetano fez “Alegria, alegria”, eu fiz “Domingo no parque”. Conhecemos Rogério Duprat. Imaginei que Rogério pudesse fazer conosco, no caso de “Domingo no parque”, algo do que George Martin fazia com os Beatles: introduzir nos arranjos elementos orquestrais modernos, como os da dodecafonia. Através de Rogério, conhecemos também os Mutantes, que foram fazer “Domingo no Parque” comigo. Pra participar de “Alegria, alegria”, Caetano chamou os Beat Boys, um conjunto argentino radicado em São Paulo, que tinha um desenho inspirado no rock, nos Beatles. Aquilo, na verdade, marcou o início da coisa tropicalista. Foi logo depois que se começou a falar de Tropicalismo, e Luís Carlos Maciel e Nelson Motta escreveram os artigos onde aparece essa palavra.
Ana: Que termo você curtiu mais: “Tropicália” ou “Tropicalismo”?
Gil: Tropicália era mais instigante, porque dava idéia de lugar. Era uma situação ideal. Tropicalismo era mais parecido com teoria. Achava difícil entender o que era.
Ana: Como era o Gil que entrou na Tropicália? Como ela transformou você?
Gil: Passei quase todo o tempo da Tropicália fazendo tudo do meu ponto de vista. Colocava naquilo o que achava importante. Trabalhar os signos do rock’n’roll que circulavam no panorama jovem internacional: cabelos grandes, roupas diferentes, desejo de ruptura e contestação dos valores clássicos, abertura existencial e comportamental. Toda a Tropicália – o teatro de Zé Celso, as artes plásticas, o cinema – tinha muito disso. Mas eu tinha vindo de uma área completamente diferente. Não tinha notícia, por exemplo, da Semana de 22 nem das vanguardas internacionais. Passei a adolescência confinado em Salvador, e o meu maior contato com a modernidade foi por meio do cinema moderno francês e italiano: Antonioni, Rossellini, Fellini, Godard, Truffaut. Ao mesmo tempo, conheci Caetano e o seu grupo. Também freqüentava os seminários de música da Bahia, que me despertaram o interesse pela música não convencional. Fora isso, eu não tinha elementos suficientes pra formar uma teoria clara sobre um movimento modernizador mais amplo. No bairro de Santo Antônio, vivia o mundo da baixa classe média baiana, com festas de paquera de fim-de-semana, sabe? Já na universidade, tomei contato com a Bossa Nova e alguns setores da música moderna.
Ana: Como foi a sua participação no CPC, Centro Popular de Cultura, junto com Capinan e Tom Zé?
Gil: No CPC, Centro Popular de Cultura, Capinan se incumbia da parte literária, e eu e Tom Zé da parte musical. Tom Zé cuidava da coisa mais geral, e eu fui me dedicar ao setor mais popular. Arrumar uma escola de samba, na Roça do Lobo, nos Barris, no Dique do Tororó, e trazê-la pro CPC, e trabalhar uma vertente artístico-política, dentro da perspectiva revolucionária que guiava o movimento estudantil daquela época. Eu vinha disso. Caetano também, só que já mais dentro da escola de teatro, mais ligado à literatura e à pintura modernas. Ele era muito mais culto do que eu, e continua sendo.
Ana: Você pode imaginar qual seria o desdobramento imediato do movimento tropicalista, a partir do ponto em que parou?
Gil: É difícil saber. Os fenômenos realmente históricos, que marcam uma virada, caracterizam-se muitas vezes pela disfunção. Quer dizer: quando deixam de funcionar é que de fato se revelam, porque aí é que se tornam marcos. Aí é que passam a fazer história. Se o Tropicalismo não tivesse sido interrompido, provavelmente não teria tido a importância que teve.
Ana: Quer dizer que a própria interrupção da Tropicália, o seu rompimento brusco e inesperado, faz parte do que ela é?
Gil: Talvez. Mesmo que muito do que produziu ficasse e se desdobrasse em outras coisas, não seria a marca histórica que é. Não provocaria a curiosidade analítica. Na verdade, a interrupção brusca do Tropicalismo é o que consolida a ruptura que ele desejou fazer na música e na arte brasileira. Se ele não tivesse sido reconhecido como abuso, ou confundido com abuso, não teria sido reconhecido como novo uso exuberante de todos os potenciais. Ou talvez a gente estivesse naquele momento antecipando o que viria a acontecer na década de 70, o rock brasileiro, os Mutantes… Eu teria provavelmente me transformado muito mais num roqueiro, com o impulso de Lenny, Gordon, Serginho, Arnaldo, Rita… Com Rogério Duprat, fazendo o papel de George Martin aqui no Brasil, e com a extraordinária inteligência de Caetano… A gente teria feito dez anos antes o que veio a acontecer com os roqueiros dos anos 70.
Ana: No final, parece que tudo já estava sendo muito sofrido pra vocês.
Gil: Muito! Porque o traço característico tinha sido o confronto. Não era aquilo que eu queria. O que me movia era o espírito de transformação estética. Não queria romper com coisa nenhuma. Aliás, uma das características do Tropicalismo não é incluir tudo? Fazer dialogar os vários modos de traduzir a realidade artisticamente… Primeiro queria que todo mundo participasse. Mas a gente acabou ficando isolado. Um gueto hostilizado. A gente então foi obrigado a hostilizar também, responder com um discurso agressivo. Como antena de tudo, eu sofria muito. E medroso como eu sou…
Ana: Você é medroso, Gil?
Gil: Sou. Percebia o cerco se fechando contra nós.
Ana: Caetano conta de um medo seu antes de entrar no palco pra cantar “Domingo no parque”.
Gil: Era uma coisa que vinha da infância. Nos concertos de fim de ano da Academia de Acordeon, quando eu tinha que ser o artista, o indivíduo pelo qual o gênio, o discurso público, a alma popular, se expressam, ficava com medo. E quando eu tinha que ser o representante político, também.
Ana: Ainda bem que o medo não te imobilizou.
Gil: Não! Ao contrário, me levava! Ia quase semi-inconsciente, tomado por uma febre, um misto de ímpeto e receio. Ficava sempre ali, num sanduíche entre o medo e o desejo do novo.
Ana: Na canção “Divino Maravilhoso”, música sua e letra de Caetano, há o verso: “Não temos tempo de temer a morte”.
Gil: A gente temia, mas não tinha tempo de temer. Enquanto eu vivia mais o sentimento disso, Caetano vivia mais o pensamento disso. Sou muito sentimental, não é? Sinto as coisas, antes de lhes dar nome, e sentindo sei o que são. E caminho com elas. O meu centro de destilação é o coração.
Ana: Fale sobre a sua experiência na prisão?
Gil: A prisão tem a ver com o que falei sobre a interrupção brusca do Tropicalismo como uma forma de revelação do que ele quis representar como ruptura. Quando chegou, a prisão revelou o que eu intuía. Agora, à distância, depois de ter entrado e saído, vejo a prisão como um alívio. No momento em que fui preso, senti o alívio de saber que a minha paranóia não era absurda. Eu não estava doido. A prisão era inaceitável de qualquer ponto de vista, mas do ponto de vista existencial. Foi ali que encontrei a ioga, a macrobiótica, a visão ascética da vida como complementações do ser. É claro que houve o choque inicial, todas as privações que a prisão representa. Mas, quando absorvi esse choque, entendi que aquilo tinha acontecido por causa do que a gente tinha vivido antes. Então a alma se liberou pra buscar a levitação, o vôo mais alto. Isso corresponde também a uma viagem mais pra dentro. Quanto mais pra fora, mais pra dentro.
Ana: E o confinamento em Salvador depois da prisão?
Gil: Foi o resíduo da prisão. Eu não podia sair de Salvador, mas podia ir e vir, de volta à comunidade, ao seio da família. Podia ir à Fonte Nova, ao cinema, à praia, mas com a marca da prisão. Porque a gente tinha que se apresentar regularmente à Polícia Federal, sempre vigiados, sem perspectiva sobre o futuro. Até que decidiram que a gente iria sair do Brasil.
Ana: E o exílio? Houve um lado bom no exílio. Você gravou um disco…
Gil: Pra mim, sim. Pra mim, o exílio foi quase todo positivo, apesar da saudade e da vigilância dos militares, nos proibindo de voltar ao Brasil. Mas ao mesmo tempo eu considerava a perspectiva de nunca mais voltar e me jogava na aventura. Pensava: se nunca mais puder voltar ao Brasil, então vou ter que viver aqui, e “apesar de um mal tamanho, alegrar meu coração”. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, mas eu vou ter que me encantar com o canto das aves daqui.
Ana: Por que vocês escolheram Londres como cidade de exílio?
Gil: Porque era a terra dos Beatles e dos Rolling Stones. Tudo ali era muito sedutor, com hippies, hordas de jovens, os festivais, o psicodelismo… Aquela terra civilizada vivendo uma permissividade bárbara de novo. Uma megabarbárie.
Ana: Como vocês foram recebidos no Brasil, na Bahia?
Gil: De maneira fantástica. Caetano já tinha voltado. Logo depois cheguei eu, com Sandra e Pedrinho. A família, os amigos… Fui logo pra casa de Bethânia, Gal, Capinan, Macalé, Caetano. Nos primeiros dias, fiquei girando entre a casa da família de Sandra, onde me hospedei, e a casa dos amigos no Rio. Logo depois resolvi morar no Basca, em Salvador. Voltei pro Rio de 73 pra 74. Foi a retomada pós-tropicalista.
Ana: Em poucas palavras, como é que você define a Tropicália?
Gil: Não tenho todo esse poder de síntese. Foi um sonho vivido na realidade…
(Parte 2)
Ana de Oliveira – Havia na Tropicália a intenção da violência? Vocês provocavam a platéia.
Gilberto Gil – Sim! Mas pra mim tudo estava sob o signo do desafio de violeiros, no sentido artístico. A guerra como representação, e não como realidade. Quando virou guerra real, começou a me incomodar, e me assustou muito.
Ana: Como surgiu a idéia do disco-manifesto, Tropicália ou Panis et Circensis?
Gil: Depois de “Domingo no parque” e “Alegria, alegria”, havia uma expectativa. Essas músicas e o que a gente vinha fazendo na TV significava um diferencial, e era isso mesmo o que a gente queria. Era preciso aprofundar esse diferencial, fazer mais canções e tomar mais atitudes. Na época, o disco era o meio mais natural de fazer isso. A gente precisava fazer um disco que contivesse o mínimo pra dar a idéia de bandeira. E houve interesse, Guilherme Araújo com a Phillips, que era a nossa gravadora… Todos se animaram, Tom Zé, os Mutantes, Rogério Duprat, Capinan, Torquato… A gravadora, o empresário, os artistas, o público, todos queriam. Quando alguém esboça algo de novo, todo mundo fica esperando pra ver qual vai ser o gesto seguinte.
Ana: O que significou a parceria com os Mutantes?
Gil: Ao contrário de Raul Seixas, Roberto Carlos e tanta gente na década de 50, não me aproximei do rock’n’roll com Elvis Presley e a música americana. O rock só veio a me atrair com os Beatles. E os Mutantes foram a minha porta de entrada no mundo do rock. Ficava embevecido diante deles e me perguntava: será que existe gente assim? E eles podiam ser meus vizinhos… Eram como duendes saídos de Alice no País das Maravilhas. E se vestiam como príncipes, como palhaços…
Ana: E a sua relação com os músicos de vanguarda, Duprat, Medaglia & Cia? Houve um trabalho realmente conjunto entre tropicalistas e eruditos?
Gil: Pouco. Júlio Medaglia, Damiano Cozzella, todos eles ficaram no disco Tropicália. Só Rogério Duprat continuou a colaborar conosco. Se o Tropicalismo não tivesse sido bruscamente interrompido, essa relação provavelmente teria se desenvolvido. Rogério foi fazer os discos comigo e com Caetano na Bahia. Foi o que ficou mais próximo. Com os outros, não houve tempo pra que a relação amadurecesse.
Ana: No Festival Internacional da Canção (FIC), quando você defendeu “Questão de ordem” e Caetano “É proibido proibir”, você já tinha a sensação de estar mexendo com cobras, não é?
Gil: É claro! Aquilo já foi depois do disco Tropicália, com o Tropicalismo em plena vigência. “Domingo no parque” e “Alegria, alegria” eram só um esboço. “Questão de ordem” e “É proibido proibir” eram um pós-manifesto, atitude política, guerra declarada à crítica, à criação, à sociedade civil, com adesões e desafetos.
Ana: – Não há uma passagem nesse evento que tenha lhe marcado especialmente?
Gil: Bom, eu ali, na platéia, assistindo ao “É proibido proibir”, Caetano com os Mutantes. Caetano interrompendo a apresentação, começando o discurso e eu subindo ao palco. Ele dizia: Gil está aqui, Gil está comigo. E a turba irada, atirando coisas. Me lembro de um pedaço de cenário que me atingiu a canela. E eu ali, no meio de tudo, vivendo aquele calor da representação pública que eu sentia desde os dez anos… Tive medo. Mas ao mesmo tempo, naquele palco, ao lado de Caetano, no meu íntimo eu tinha um certo sorriso irônico, como quem diz: isso deu mesmo no que tinha que dar. Eles não entendiam que a gente não queria confronto, que a nossa proposta era trazer um número cada vez maior de pessoas pra fruição de novos modos de criar. Eu sabia, daí o meu sorriso irônico. Dois anos antes, em 66, aquela assembléia no Rio já tinha me mostrado isso. Gente criadora, gente da inteligência carioca já tinha tido aquela reação convencional do público, contra qualquer coisa que chacoalhasse.
Ana: A temporada do show na boate Sucata também…
Gil: Ali, então… Mas ali eu já estava com muito medo, me sentindo individualmente ameaçado. O FIC foi o único momento de relaxamento. Mesmo porque naquela noite eu não estava cantando. Isso muda muito as coisas. Caetano me chamou e eu pulei da platéia pro palco, trazendo um olhar relaxado de fora, que me deixava abrir por dentro aquele sorriso irônico.
Ana: Houve outro evento tropicalista, em agosto de 68, na Gafieira Som de Cristal.
Gil: Esse foi o meu dia de maior pânico.
Ana: O que aconteceu naquele dia?
Gil: Zé Celso dirigia o espetáculo-piloto do que seria uma série de TV. Era um resumo da Tropicália, com todos os seus elementos. Acho que eu ia cantar “Geléia Geral”, não lembro. O cenário montado por Zé Celso era a Santa Ceia, com a mesa dos apóstolos e uma cesta de frutas tropicais no lugar dos pães. Eu, de bigode, cavanhaque e cabelo grande, era o Cristo. Tinha que cantar e apresentar o programa no centro da mesa, vestido com capa e uma daquelas roupas típicas da Tropicália. Vicente Celestino, Dircinha Batista, Dalva de Oliveira eram alguns dos convidados. À tarde, durante o ensaio, Vicente, que ainda ia ensaiar a orquestra, estava na platéia. Quando terminei o ensaio, ele se levantou e esbravejou uma coisa do tipo: “Um Cristo negro eu ainda admito, mas bananas no lugar dos pães já é um desrespeito”. Um senhor, um ídolo, o símbolo de uma época, não é? E nosso convidado… Caetano tinha gravado “Coração materno”. Fiquei abaladíssimo com a reação de Vicente, como se ele tivesse flagrado um ato desrespeitoso. E de novo vinha aquele conflito entre o sonho estético e a realidade das coisas. Eu não estava ali pra brigar, e sim pela arte. Sempre tive dificuldade em ser político. Saí dali profundamente deprimido, sem nenhum ânimo.
Ana: Isso à tarde.
Gil: É. Quando a gente voltava pra casa, eu disse a Caetano que não queria fazer o programa, que não tinha energia pra pisar no palco. Caetano disse que o meu medo era inaceitável. Mais ou menos uma hora depois chegou em casa a notícia de que Vicente Celestino havia morrido.
Ana: E à noite?
Gil: Fiz o espetáculo como se estivesse dopado. Fora o dia da prisão, acho que esse foi o meu dia mais angustiante.
Ana: Nesse contexto de medo e insegurança, como você interpretou a morte de Vicente Celestino justamente naquele dia?
Gil: Nem interpretei! Vicente tinha dito a Caetano que não queria fazer o programa e morreu. Ele foi o porta-voz da ameaça geral que pairava sobre a gente.
Ana: Como você compreende esse momento hoje?
Gil: Tudo nos leva a crer que as forças psíquicas são forças profundas, até mesmo palpáveis. Naquela noite, pelo menos eu senti que havia uma força rondando por ali. Uma leitura mais prosaica vai dizer que tudo não passou de coincidência, que o que senti foram as minhas fraquezas. Mas a gente vive a necessidade de compreensão dos vários campos de manifestação da existência… E a minha paranóia estava costurando tudo, bordando aquela flor vermelha, tinta de drama…
Ana: Você falou em Cristo negro. Por que quase não há referências à questão étnica no panorama tropicalista, apesar da importância do carnaval para a Tropicália, festa em que a presença da cultural afrobrasileira é marcante? Em rigor, isso só passa a acontecer na sua obra a partir de Refavela.
Gil: Eu nunca tinha ido ao candomblé. Só fui depois do exílio. Aí é que me aproximei dos blocos, do significado profundo do carnaval da Bahia. Salvador é uma cidade já muito misturada. Vivi a infância e a adolescência no bairro de Santo Antônio, que é médio por excelência. Quer dizer, um bairro onde convivem árabes, negros, espanhóis, brancos, mestiços, mulatos, cafuzos, gente do sertão… E todos de classe média, com casa e profissão liberal. E a média é a média. Vivi ali, na média das coisas, sem perceber os pólos. Só fui sentir o racismo quando comecei a ir ao Colégio Marista, de pequenos burgueses, na maioria brancos. Mas sempre voltava pro meu bairro, onde não havia nem preto nem branco, nem rico nem pobre. Todos tinham uma bicicleta, algumas famílias tinham automóvel, mas todo mundo andava de transporte coletivo, ia ao cinema, jogava futebol… O carnaval, as cerimônias religiosas e cívicas, o desfile de Dois de Julho, tudo passava por ali. Santo Antônio era central, a parte histórica da cidade. Por isso, eu não tinha noção dessa profunda divisão racial e muito menos da cultural. Os blocos eram afros, mas incluíam todo mundo! Era a própria cidade de Salvador, como nós, mulatos. Durante o exílio, vi que na Inglaterra a questão racial tinha mais peso. Então conheci a consciência negra como um trabalho apoiado no mundo inteiro pelos ativistas americanos, e a informação exaustiva sobre os movimentos de libertação na África… Isso culminou em mim quando saí nos Filhos de Gandhi. Depois fui ao Festival de Artes Negras na África. E aí vem Refavela, que é o primeiro manifesto negro, não é?
Ana: Nos últimos anos, a Tropicália vem despertando um enorme interesse nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. A que você atribui esse fato, tantos anos depois?
Gil: É que certos fenômenos sociais, ainda mais quando são efêmeros e restritos a uma sociedade periférica, só podem ganhar nitidez com o afastamento no tempo. Só hoje é que as pessoas estão suficientemente longe pra ter interesse histórico por aquilo. Para as novas gerações, aquilo é história, não é vida. Aqui no Brasil, especialmente, surgiu esse interesse renovado na universidade, onde estudam jovens que nem tinham nascido naquela época. E foi o único movimento musical com caráter de rebeldia consagrada.
Ana: Como você acha que os estrangeiros entendem algo tão interno à história do Brasil?
Gil: Do ponto de vista lá de fora, a Tropicália se associa a um conjunto de signos culturais voltados para a idéia da originalidade brasileira. Como o nosso Modernismo e tantos outros movimentos culturais, de afirmação da qualidade intrínseca que diferencia o Brasil de outras terras. E mais: afirmação do que faz com que a gente se desloque pra um futuro diferenciado. Hoje no mundo você tem os países europeus, importantes por causa da sua história acumulada, de presença cultural e econômica, eixo difusor da civilização, forte e influente. Junto deles, surgiram os EUA, do Mundo Novo o primeiro rebento, bem sucedido e tal, que vai receptando os outros países, Índia e China, ainda mais significativos porque têm uma história antiga, povos e continentes grandes. Deles todos, o Brasil é o mais novo país grande do mundo. É, portanto, uma criança que desperta curiosidade. O Brasil é o primeiro na lista dos países pros quais as vistas mundiais estão voltadas no século XXI. Está ali, nas análises estratégicas sobre a globalização. Como se os titulares, Europa e EUA, estivessem jogando, e o Brasil estivesse no banco de reserva. Vai entrar no time a qualquer hora…
Ana: Mas os estrangeiros se surpreenderam com o fato de ter surgido na década de 60, num país periférico, um movimento tão complexo como a Tropicália, quando era de se esperar que, pelo seu caráter de vanguarda, acontecesse num país do centro.
Gil: A Tropicália é uma manifestação recente, de trinta anos atrás, como a Semana de 22 é de setenta anos atrás. O mundo começa a perceber que o Brasil vem se formando por camadas. Pela primeira vez há um interesse internacional em analisar a arqueologia cultural brasileira. Pela primeira vez o Brasil começa a inspirar a idéia de acumulação cultural. A Tropicália serve muito bem pra isso, porque discutiu que extratos, populares, não-ditos, compunham a cultura brasileira.
Ana: Que análise você faz da herança deixada pela Tropicália?
Gil: Bom, primeiro a herança em nós mesmos, que estamos aí: Caetano, eu, Tom Zé, Rogério Duarte. Continuamos basicamente tropicalistas. A prova é o que fazemos. Servimo-nos da nossa vivência pós-tropicalista pra manifestar certas coisas que tinham ficado no embrião. Falamos aqui da questão negra, que no Tropicalismo ainda não podia ser esboçada com clareza. E há o grande contínuo cultural que o Brasil tem, com todas as festas populares, esse contínuo que vai do folclore à música popular, absorvendo os extratos eruditos, deglutindo antropofagicamente as influências que vem de fora, da alta e da baixa cultura. Para além das nossas pessoas, apareceu muita coisa tropicalista. Uma possibilidade de que a música de vanguarda surgisse no Brasil, com Hermeto Paschoal, Egberto Gismonti, Naná Vasconcelos… O Chico Science dizia nos shows que o próprio modo de ele se mover era tropicalista. Há um desaguar de elementos tropicalistas em vários trabalhos.
Ana: Sobretudo nos mais performáticos.
Gil: O Tropicalismo mudou a história. Se ele não tivesse existido, a história cultural do Brasil seria outra. Prefiro ver assim, como uma influência geral. Uma atmosfera, que é o ar para as novas gerações respirarem. O Tropicalismo hoje está nos pulmões, na corrente sangüínea da criação artística do Brasil. Tudo o que enfatiza o sentido democrático da convivência dos diversos modos de manifestação cultural e tem o impulso de aventura é tropicalista.
Ana: Assim como o Tropicalismo era filho da Semana de 22, certas manifestações artísticas atuais são descendentes do Tropicalismo.
Gil: Caetano chama isso de linha evolutiva. As mãos de uns se tornando os pés de outros… Os pés tropicalistas se assentavam sobre as mãos modernistas. Os pés do pop atual se assentam sobre as mãos tropicalistas. E assim por diante, como pirâmides circenses. As pirâmides culturais são assim também. O Tropicalismo é pedra dessa pirâmide. Não importa em que nível está. Mas, se você tira essa pedra, toda a pirâmide cai.Também não importa se ela está na base ou no cume. Aí é querer interromper a história. As camadas vão continuar sendo sobrepostas, enquanto durar a humanidade, as nações, e entre elas o Brasil como configuração particular de um povo. Não gosto de ficar apontando tropicalistas. O que há são Tropicalismos transfigurados em outras fantasias. Novos corpos com a mesma velha alma tropicalista.