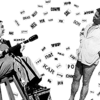Ilumencarnados seres

manoel barenbein
Entrevistas
Ana de Oliveira: Manoel, como você conheceu o grupo que logo depois veio a lançar o movimento tropicalista?
Manoel Barenbein: Eu já tinha sido divulgador, era assistente de produção de Walter Silva, que produzia todos os shows do Teatro Paramount, e freqüentava também o Teatro de Arena, onde conheci Gil. Em 66, eu já havia produzido “A Banda”, de Chico Buarque e gravado “Disparada”, de Geraldo Vandré. Mas o processo tomou forma quando saí da RGE para assumir a direção artística da Polygram, na época Phonogram, justamente às vésperas do Festival da Record de 67.
Ana: Que importância tinham os festivais do ponto de vista da gravadora?
Barenbein: Antes de André Midani, o presidente da companhia era Allain Trousat, tão fã de música brasileira que hoje, morando na França, tem uma editora de música que só trabalha com músicos brasileiros que moram lá. Foi Alan que fez o imenso cast do começo da Phonogram. Um mês e meio antes do Festival de 67, quando tinham saído as trinta e seis classificadas, dezoito delas eram de artistas da companhia. Em vez de fazer dezoito compactos simples, ele tomou a iniciativa de pegar as doze de cada noite e fazer três LPs. Os autores ou intérpretes de outras gravadoras teriam o seu cover na nossa gravadora. Foi o caso de “Bom Dia”, de Gil e Nana Caymmi. Produzi Nana pra RGE e Gil pra Phonogram. Por coincidência, fiquei com os vinte e três artistas que moravam em São Paulo, entre os quais Gil e Caetano. Toda a minha formação foi com MPB, principalmente Bossa Nova. Eu conhecia música americana, jazz, rock, Beatles. É claro que o sonho de todo produtor era fazer música brasileira com som internacional. E o sonho estava ali.
Ana: O que você sentiu ao ouvir pela primeira vez “Alegria, alegria” e “Domingo no parque”?
Barenbein: Quando a gente foi conversar com Rogério Duprat sobre o arranjo da música de Gil e quando Caetano me disse que o acompanhamento seriam os Beat Boys, isso significou muito pra mim. Foi um marco, o ponto central da minha vida. A partir dali o sonho foi acontecendo.
Ana: Você sofreu represálias profissionais ou se sentiu estigmatizado por ter trabalhado com os tropicalistas?
Barenbein: Sim, mas, talvez pelo meu jeito de ser, não tive problemas. Ao contrário de hoje, quando se tem que implorar pra rádio tocar, o pessoal do rádio fazia fila pra saber se eu não tinha o acetato novo de Caetano. Com exceção de um purista ou outro. Um radialista chegou a quebrar no ar o compacto “Chega de saudade”/“Desafinado”, de João Gilberto, dizendo que o diretor da Odeon era um maluco por ter gravado aquilo.
Ana: Você e Guilherme Araújo tinham atuações paralelas, não é? Como era esse entendimento?
Barenbein: Pouquíssimos empresários no Brasil podem se comparar a Guilherme. Ele transformou as idéia de Caetano e Gil em realidade. Sem a sua criatividade fantástica, muita coisa não teria sido feita. Trabalhamos muito juntos, o que pra mim é uma honra.
Ana: Em sua opinião, existem na história da Tropicália personagens ou fatos menos valorizados do que deveriam ser?
Barenbein: Eu me sinto parte de um conjunto harmônico, cada um tinha a sua função, e o fantástico é que ninguém predispôs as coisas. Eram as pessoas certas na hora certa. Hoje não se fala de Sandino Hohagen, por exemplo, um maestro que participou muito da história. Ou mesmo de Tom Zé. Mas a gente sempre deu o crédito pra eles. Só que as coisas vão tomando formato e se ajeitando…
Ana: Como era o ambiente de estúdio, durante as gravações com Caetano, Gil, Gal, os Mutantes, Rogério Duprat e Tom Zé?
Barenbein: Era mais que uma festa. Só trabalhei com gente criativa, o que é setenta por cento do caminho andado. Quando levei pela primeira vez um distorcedor de guitarra pro estúdio, os técnicos quiseram me matar, porque eram eles que iam todos os dias ajustar tudo pra que nada saísse distorcido. E de repente chegava um maluco com uma caixinha, batia o pé no pedal e a guitarra saía distorcendo. Uma vez Rita Lee chegou pra uma gravação noturna dos Mutantes com uma maleta e tirou de dentro uma bomba de flit. O técnico, acostumado com Sílvio Mazurca, Maysa, tudo certinho, não entendeu nada. Perguntei a Rita o que era aquilo. E ela disse: o ximbau da bateria. A bomba marcava o tempo do ximbau.
Ana: E os discos gravados durante o confinamento de Caetano e Gil em Salvador? O clima das gravações já não era tão leve assim, não é? Parece que você enfrentou momentos difíceis ao produzir os discos deles nesse período.
Barenbein: O disco branco de Caetano, que tem “Irene” e “Chuvas de verão”, e o disco de Gil que tem “Volkswagen blues”, foram ambos feitos ao contrário por causa desse confinamento. Eles não tinham um tostão. Foi um modo de lhes arrumar dinheiro. Mas a companhia, que tinha um cast de subversivos – Caetano, Gil, Elis Regina, Chico Buarque –, não podia entrar abertamente. Produzimos os discos e antecipamos os direitos. Gil encarregou-se de fazer os arranjos dos dois e montar um grupo pra gravar. Eu, Duprat, Ari Carvalhaes e João Pereira saímos do Rio com duas máquinas de gravação estéreo, na época só com dois canais, microfones e tudo mais. Alugamos um estúdio de comerciais de rádio, que era mono. Tivemos que trocar o seu equipamento pelo nosso. Quando voltei pro hotel, vi dois senhores da Polícia Federal me esperando. Perguntaram se era eu o responsável por Caetano e Gil. Falei dos dois discos. Disseram: “O senhor sabe que eles não podem se manifestar publicamente?” Respondi que sim, que aquilo não era público e sim dentro do estúdio, mostrei as letras, que já tinham sido liberadas pela censura, e lhes dei o endereço. As gravações, que duraram mais ou menos duas semanas, foram muito tensas.
Ana: Como você compararia o mercado fonográfico daquela época com o atual?
Barenbein: São dois mundos de consumo totalmente diferentes. Ouvimos “Alegria, alegria” hoje, décadas depois, e sentimos prazer. Mas não temos paciência pra ouvir algo de quatro ou cinco anos atrás. Naquele tempo, tínhamos só duas rádios, a Difusora e a Excelsior. Hoje cada cidade tem dezoito rádios FM. Hoje ouvimos uma música setenta vezes por dia, o artista aparece sessenta e nove vezes por mês na TV… Não tem comparação, nem da técnica, nem do prazer de ouvir.