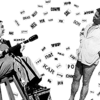Ilumencarnados seres

tom zé
Entrevistas
Ana de Oliveira: Como foi a experiência da Tropicália para você, cuja formação até então tinha mais a ver com o folclore rural e o experimentalismo erudito, ao contrário dos demais, que tinham desde sempre a bossa nova como o elemento mais firmemente assimilado?
Tom Zé: Entre o folclore e o experimentalismo erudito eu me voltei também, na tentativa de praticar uma virtude mediana (como queriam os romanos), para ligeiras alterações nas formas da música popular – praticadas com tanta repetição, pareciam de pedra.
Ana: E o rock, como ele entrou em sua vida? Até que ponto ele foi incorporado internamente por você?
Tom Zé: Em 1956 eu filei a aula vespertina do Central (colégio da Bahia), entrei no Cinema Excelsior, na Praça da Sé, sentei-me na primeira fila, cruzei as pernas, me recostei, sossegado. E o filme começou, ou seja, começaram os letreiros. Recostado na primeira fila, quero dizer, quase deitado, numa posição em que se está pronto pra morrer sem derrota, como morri ali. Não era o rock que me assaltava. Era a história da música que dava um passo. Como Beethoven contra Mozart, usando uma (Dd), dominante da dominante. Logo de saída em sua segunda sinfonia e depois, para firmar o centro tonal, tendo de repetir o acorde de primeiro grau diversas vezes, muito fortemente, antes de terminar a peça. O tal rock (Bill Halley) por sua vez, precisava comprometer temerariamente a segurança da alma com vazios bem extensos. Seu conjunto musical, seu poder de som, era dez vezes menor que a orquestra beethoveniana. Mas potencializava, matematicamente seu pequeno conjunto, atacando em constantes tempos fracos.
One, two, three o’clock
Four o’clock rock
E essas síncopes deixavam a alma literalmente desfalecida na embriaguez do vácuo. Tanto que, fazendo uma brincadeira simbólica e apressada — já que este alfabeto de sinais fonéticos que os gregos inventaram traduz todas as línguas mas também tem suas limitações — escrevo que a alma morreu ali. Hoje o ser humano é erigido sobre o ritmo.
Abismo: eles tocavam
one,
um abismo imenso, uma síncope,
two,
e assim iam.
Abismos que aos navegadores pareciam mais próprios do mar. Tanto que diziam: “terra firme”. Num tempo e numa mente em que a terra acabava no “não”, ou melhor, em que a terra precisava do abismo. Esse era o mundo de Ptolomeu. Logo ele, que tinha no próprio nome um desses abismos. Pto…; não é Pitolomeu; é Pto. Contém o desidratado abismo. Por isso a Inquisição estava certa contra Copérnico, que fundava uma insegurança muito grande para a humanidade. E, veja, Copérnico tinha um nome todo ligado, todo melado: Nicolau Copérnico. No máximo, uma proparotíxona. Mas foi justamente ele que fundou uma terra perigosamente solta no espaço. Repito: a Inquisição estava certa. Por isso, antes de Copérnico, não podia haver nem tanta síncope nem uma terra que girasse solta no espaço, temerariamente livre. Nenhum gênero musical anterior ao rock poderia se arriscar com ritmos tão violentos como os de “A Sagração da Primavera” (Stravinsky) e o próximo passo, “Rock Around the Clock”. Só num universo que, além de copernicano, era seguro. Com Stravinsky, apesar daqueles ritmos alucinados, ainda era a alma. Mas o próximo passo da desidratação, depois dele, este novo passo, já deixava um abismo entre Terra e Lua. Era Copérnico. O vazio era tão grande que a força da alma não podia se estender entre o one e o two. Nisso a Inquisição estava correta: submergia a alma, loucamente embriagada, no ritmo. Entre a Terra e a Lua, sim, podia haver massa-vazio-massa. Um som e uma pausa. É nesta pausa que a luz pode percorrer 300.000 km por hora. Mas não na água, por exemplo. Duvido que na água a luz possa correr a 300 mil km p/h. Vai ver que ela, a luz, com muito esforço, pode fazer alguns de seus fótons andarem 359 km p/h na água. Mas 360, duvido. “Então o ritmo é o fim do mundo”, você me dirá. Ainda não é o fim do mundo, porque entre a Terra e a Lua o ar não é o elemento mais importante que existe. Entre ambos, entre one e two, como se ouve lá no rock, o importante que existe é a pátina do tempo. Por isso entre one e two a alma morre, mas não se perde no Inferno, como pensava a Inquisição. Está confuso. Mas retrata a complexidade do que experimentei então.
Ana: Você concorda com a idéia de que a sua contribuição mais particular ao grupo e ao movimento foi a sua veia satírica, corrosivamente crítico-irônica?
Tom Zé: E a inquietude formal.
Ana: Em que medida suas informações musicais eruditas adquiridas nos Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia facilitaram suas relações com os maestros vanguardistas do Tropicalismo?
Tom Zé: Não melhoraram muito. Obrigavam-me a escrever as músicas, o que não era nenhuma vantagem.
Ana: Antes de vir para São Paulo e o Tropicalismo eclodir, você sentiu que você, Caetano, Gil e Gal podiam vir a ser um grupo de fato, isto é, com uma coesão de intenções artísticas?
Tom Zé: Não. Um dia Dori Caymmi chegou ao ensaio de “Velha Bossa-Nova, Nova Bossa-Velha” e fez uma introdução para “Sertaneja”, que eu cantaria, tão difícil, que quase não acertei a entrada. Pensei que ele tinha muito mais que ver com os meninos. Senti que se formava um grupo quando Caetano disse literalmente: “Vamos fazer um disco: ‘Tropicália’, procedendo como grupo, agindo como grupo.”
Ana: Você acha que foi um tropicalista sectário em relação a Chico Buarque? O que você, como tropicalista, na época, pensava dele?
Tom Zé: Chico Buarque era usado pelos retrógrados e reacionários como bandeira antitropicalista. Às vezes a gente confundia esse uso com a pessoa de Chico. O que era uma injustiça, uma ingratidão com um compositor tão brilhante e um caráter raro.
Ana: Você comandou sozinho o Divino, Maravilhoso, com a prisão de Gil e Caetano? Quantas edições, e como foi essa experiência?
Tom Zé: Comandei duas vezes, duas edições. Nestas edições de “Divino Maravilhoso” aconteceram algumas coisas curiosas. Fernando Faro não acreditava no tipo de número musical que eu propunha. Deixava-me fazer o número, sem eu saber que não estava sendo filmado. Acontecia de a platéia receber com o maior entusiasmo. Então, ele pedia para repetir, para poder filmar. Nunca saía igual, porque nem eu nem a platéia poderíamos “representar” o prazer da novidade.
Ana: Como foi para você aqui no período do exílio deles?
Tom Zé: Muita saudade.
Ana: Você considera os discos que você fez nos anos 70 – radicalmente inovadores – extensões naturais daquilo que você fez no Tropicalismo?
Tom Zé: Nem sempre.
Ana: O que você detecta de tropicalista nos trabalhos de Caetano e Gil hoje?
Tom Zé: Detecto que eles estão obedecendo à fluência natural de seu interesse e das viagens do coração.
Ana: O que foi ter sido um integrante do Movimento Revolucionário Tropicalista, na sua vida?
Tom Zé: Foi um imerecido privilégio e um imerecido enterro.
Ana: Por que você, desde que veio, ficou sempre morando em São Paulo?
Tom Zé: Por tabaroísmo, pelo casamento, porque durante o ostracismo a classe universitária, aqui em São Paulo tão numerosa que pode barganhar uma profissão para alguém que ela eleja, me manteve músico: universidades da capital de São Paulo e do interior.
Ana: Quando você assumiu o nome artístico Tom Zé? Se lembra de quando chegou, naturalmente, a ele?
Tom Zé: Toim Zé é um apelido de infância, escrito como um nome só, Toinzé. Era difícil escrever esse som. Guilherme Araújo, o empresário do Tropicalismo, em 1967, naquele bar junto ao Teatro Record Consolação, aconselhado por Caetano a me empresariar, disse que meu nome deveria ser Tom Zé, escrito separadamente, porque Tom tinha ligeira sofisticação e constrastava com Zé. O que já traduzia minhas composições satirizando as contradições da sociedade