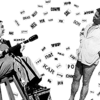Eubioticamente atraídos
o trópico entrópico da tropicália
Visões Brasileiras
O trópico entrópico da Tropicália
Mário Chamie
O Estado de São Paulo, 4 de abril de 1968
O Tropicalismo histórica e sociologicamente, deu em Gilberto Freyre. Um visão telúrica em que o homem brasileiro assumiria um complexo colonial metropolitano híbrido, para ter personalidade cultural. Personalidade mais do que discutível. O Tropicalismo como sensação cotidiana e antropológica deu em Caetano Veloso. Uma visão planetária em que o homem assume um descomplexo existencial para, a exemplo de Macunaíma, ter caráter na falta de caráter. O Tropicalismo do solitário de Apipucos emaranhou-se numa compreensão artesanal do devir brasileiro. Para ele seríamos, hoje e amanhã, flores folclóricas em ordem e progresso. Isto é: não perderíamos nossa personalidade luso-indígena nem mesmo diante das máquinas que vão nos transformando numa sociedade industrializada. O Tropicalismo de Gilberto Freyre, a controle remoto, teria sua expressão popular e musical no jingle da Varig em que Pedro Álvares topa com a “terra boa” e a “gente generosa”, conforme o testemunho de Caminha. O jingle funcionou como samba de rua nos últimos festejos carnavalescos.
Por sua vez o Tropicalismo de Caetano Veloso bate na cabeça do nosso instinto ruralista e artesanal. Induz um instinto coletivo e é, todo ele, fruto de uma comunicação típica de uma cultura de massas fundada em nossa idade tecnológica. Gilberto quer ter uma coerência cartesiana, em obediência a supostas raízes e linhas de formação da formação brasileira. Caetano se alimenta de uma substantiva incoerência barroca porque o LSD é barroco tanto quanto a alucinação psicodélica. O Tropicalismo do sociólogo crê na perenidade diacrônica da nossa personalidade de povo; deseja explicar, ao longo de quatro séculos e meio, o que nos distingue enquanto colonos, metropolitanos e independentes post-Pedro I. Deseja explicar e distinguir e distingue a casa grande da senzala, a região da nação. O seu “Manifesto Regionalista”, por exemplo, é explicativo e os seus equívocos de cumplicidade ultramarina se não se identificam, pelo menos compõem, formalmente, com a família e o universo de discurso cujas expressões incluem “essa nega fulô” ao lado do romance de Graciliano Ramos e da poesia de João Cabral de Mello Neto. O Tropicalismo de Caetano não. Esse só admite a transitoriedade, sincronia do volume de informação que os canais planetários de nossa civilização agora nos lançam no dia-a-dia.
Além disso, Gilberto é pernambucano. Caetano Veloso, baiano. Pernambuco tem a tradição esguia e enxuta da cana de açúcar, essa planta prototípica que serviu de modelo à flauta de osso de Melo Neto. A Bahia tem a tradição gorda e redonda do fumo e do cacau, cuja metaforização anárquica sopra em Jorge Amado e se expande com violência em Glauber Rocha. O cartesianismo de Pernambuco é redundante, dotado de verticalidade solar, na sua clareza seca. O barroquismo da Bahia é abundante, dotado de horizontalidade luminosa, no seu ofuscamento úmido. Pernambuco faz um discurso límpido, agudo, linear, embora o curso do Capeberibe seja sujo. Na Bahia explode sempre a súmula, a soma ou suma-multilateral, antilinear de Gregório de Mattos que escrevia poemas trilíngues para fixar, num só texto, as vertentes de uma só situação política.
Aí está: de um lado o discurso concatenado de causa e efeito dentro do seu rigor sucessivo. De outro, a soma concentrada, dentro de seu ardor simultâneo. O primeiro teria que juntar a terminação “ismo” à palavra tropical; o segundo a terminação “ália”. Porque todo “ismo” é um programa extensivo, carregado de princípios e de normas e toda “ália” (ainda agora Gian Francesco Guarnieri está escrevendo a peça Animália) é um compósito cruzado de elementos díspares e heterogêneos.
Nessas duas concepções está em jogo o que cada uma significa de per si e em relação à outra. A primeira leva consigo o pressuposto da redundância que, em teoria da informação, desemboca na “banalidade”, na ausência de imprevisto e até mesmo de co-autoria. A segunda consagra a “probabilidade”, a desordem codificada, e por isso concede ao leitor ou ouvinte o poder de interferência criativa no contexto do texto e da música que se lhe apresentam. A primeira expõe a mensagem já saturada, estabelecendo uma passagem sem perturbação ou “ruído branco” entre o emissor e o destinatário. A segunda propõe a mensagem com ambivalência, instaurando uma área de “possíveis”, terreno fértil a interpretações, projeções, conexões e correspondências livres. A primeira é o dado fechado do entendimento. A segunda, o campo aberto da entropia.
Se a entropia, segundo Umberto Eco, é a medida da desordem e do inesperado, a linguagem de “Tropicália” é entrópica de ponta a ponta. Trata-se da linguagem que nos obriga a dizer que todo movimento artístico brasileiro, até aqui inimigo da entropia, entrou pela “pia” e não propriamente pelo “cano”. E por que? Porque a linguagem de “Tropicália” é uma convocação desinibida de referências, temas, palavras, ruídos e frases de universos isolados no espaço e no tempo. A organização do seu ritmo e da sua estrutura alastra uma justaposição de levantamentos sincrônicos de fragmentos, culturemas, dietemas e sucatas. Nela, o presente está no passado, o passado no futuro e vice-versa, segundo a excitação e a intemperança própria de certo temperamento tropical. Com essa intemperança, “Tropicália” ergue um painel histórico confrangido, oferecendo em bloco, como se o ouvinte permanecesse num ponto ideal de eqüidistância face um panorama tumultuado de fatos, coisas e acontecimentos. Seus cortes e recortes abarcam citações e transcrições sem elo numa familiaridade convocada e invocada de convivência significativa.
Realmente tudo começa com a convocação de Villa-Lobos, o menos caprichado, o mais burramente brasileiro que, com o auxílio de sugeridos cocos e berimbaus, sublima a declamação de trechos da carta de Pero Vaz Caminha. Depois irrompe o amontoado exuberante da letra, o pasticho e a paródia pelos quais Caetano Veloso coze e cozinha, num gesto empírico e confiante, o que sabe e o que não sabe, o que ouviu falar e suspeitou compreender. Assim, os dois primeiros versos são uma transcrição adaptada dos dois ditemas do textor práxis “Caminho de Transporte: duas mãos”. No textor está escrito: “Pela várzea o gavião/Sob a caga o caminhão”. Caetano canta “Sobre a cabeça os aviões/Sob os meus pés os caminhões”. A seguir, as convocações se alternam num crescendo que ora raia pela linguagem automática dos surrealistas, ora pela crônica de jornal, ora pelo registro antológico de estilos e imagens literários. Diz Caetano: “Aponta contra os chapadões meu nariz/Eu organizo um movimento/Eu oriento o carnaval/Eu inauguro um monumento/No planalto central do país/Viva a bossa/Viva a palhoça”. As associações entre “nariz” e “bossa”, “movimento” e “carnaval”, “monumento” e “palhoça”, resumem a desordem crítica com que se torna possível entender uma desordem tropicalesca de propósitos. É como se Caetano nos dissesse: nós não sabemos onde temos o nariz, mas temos a bossa para tomar certas iniciativas; nós organizamos movimentos (inclusive políticos) mas tudo acaba em carnaval; nós construímos grandes monumentos (exemplo: Brasília), mas nossa mentalidade ainda é de palhoça. Essas contradições parecem-nos ser um destino e uma fatalidade quente que põe sobre Caetano Veloso e sobre nós aqueles “olhos grandes” de coruja. Afinal, Brasília está do lado da selva Amazônica, onde tem sempre uma cobra grande mirando olhuda pra Macunaíma.
No segundo conjunto estrófico o cantor anota “O monumento é de papel crepon e prata/Os olhos verdes da mulata/A cabeleira esconde atrás/Da verde mata/O luar do sertão/O monumento não tem porta/A entrada é uma rua antiga, estreita e torta/No joelho uma criança sorridente, feia e morta estende a mão/Viva a mata/Viva a mulata”. O instinto planetário, aqui, brilha bastante. Caetano tem um olho em José de Alencar, Olavo Bilac e Catulo da Paixão Cearense, e outro no duro terra-a-terra do Brasil. Catulo é o do “Luar do Sertão”; Bilac é o da “natureza perpetuamente em festa”, com que conota a nossa eterna “verde mata”, romântica e parnasiana; Alencar, que mais abaixo nos oferecerá sua Iracema, açambarca “cabeleiras negras”, além de “olhos verdes” e ausentes “lábios de mel”. Já a realidade é dura e onírica ao mesmo tempo pois todo monumento de concreto (Brasília plantada no planalto central) acaba virando “de papel”, quando ele co-habita essa criança fantástica, monstrinho de Jeronimus Bosch, “sorridente, feia e morta”. O resto fica por conta da mulata, que merece vivas e convivas.
No terceiro conjunto, o tropicalismo de Caetano Veloso mistura o início do segundo ato de Rei da Vela com a imagética de Lautreamond e Rimbaud. Está escrito: “No pátio interno há uma piscina/Com água azul de amaralina/O canteiro principal a nordestina/E faróis/Na mão direita tem uma roseira/Autenticando a eterna primavera/E no jardim os urubus/Passeiam a tarde inteira/Entre girassóis/Viva Maria/Viva a Bahia”. O símbolo vivo do subdesenvolvimento tropical é mais a piscina do que o mar,. Os Estados Unidos pretendem ganhar, inclusive, uma faixa turística de tropicalidade, nas piscinas suspensas de Miami. E no Brasil, a família próspera e a alta burguesia ama com orgulho o estágio econômico que permite ter em casa um quadrado ou um retângulo de água azul. Piscina e automóvel (“os faróis”) são sintomas olimpianos (de Olimpo) e holywoodescos conforme Edgar Morin. Nesse clima, a presença do urubu, que é menos metáfora (trecho falho) a reação impressionista entre flores e pássaros agourentos na poesia de Rimbaud e Lautreamond. Baudelaire poderia também ser lembrado com suas primaveras negras. Por causa disso, viva a Bahia, cuja Amaralina não difere das praias africanas que atraíram até a morte o ardente poeta de “uma temporada no inferno”.
O quarto conjunto fala de um personagem-coruja, sem face, sem corpo, mas com olhos grandes lançados sobre Caetano, no escuro. Quem seria esse sujeito oculto de “Tropicália”, esse personagem? O mito daquela encarnação da fatalidade quente que recheia o fabulário amazônico, inchado de trrópico, e com seus fantasmas sempre na pista de Macunaíma e de Mario de Andrade? O Minhocão sem sangue, a Iara, a Mãe D’água o Coisa Ruim ou a figura antropomófica de uma constelação celeste em que se transformou o nosso pouco maldito herói sem nenhum caráter? Na anotação delirante de Veloso, a entropia é o próprio corpo fechado da dissonância que reúne uma alusão ao “bangue bangue” com a citação geográfica de Ipanema. Escreve Caetano: “No pulso esquerdo o bangue-bangue/Em suas veias corre muito pouco sangue/Mas seu coração balança ao som do tamborim/Emite acordes dissonantes/Senhoras e senhores/Ele pôs os olhos grandes sobre mim/Viva Iracema/Viva Ipanema”. Os olhos não são os da personagem de Alencar. Não obstante, os “verdes mares bravios” do romancista cearense, são os mesmos que banham a sofisticada praia carioca.
Finalmente no último conjunto ou bloco estrófico, o cotidiano alivia a tensão entrópica de “Tropicália”. Caetano volta ao começo. Com “bossa” e “roça” (ao invés de “palhoça”), através de um deliberado desabafo crítico em torno de uma massificação urbana brasileira que, a rigor, é uma joça. Nesse momento, juntando o passado e o presente (“Viva a banda/Carmem Miranda”) tudo está explícito: “Domingo é o fino da bossa/Segunda-feira está na fossa/Terça-feira vai à roça/Porém/O monumento é bem moderno/O modelo do meu terno/Que tudo mais vá pro inferno/Meu bem/Viva a banda/Carmem Miranda”. As convocações são nítidas: Chico Buarque de Hollanda, Roberto Carlos, o programa de Elis Regina e o grande ídolo feminino e tropical do passado. Nesse colégio de nomes, de hoje e de ontem, a massificação se estampa numa desordem familiar. O monumento (antes “de papel crepon e prata”) passa a ser considerado moderno e a própria figura do compositor se ressalta no afã psicodélico de uma súmula: seu terno é espalhafatoso e sua cabeleira é um misto barroco de arame farpado e corda de fumo. Digamos: uma súmula física. Um corte sincrônico e fisionômico de uma tropicália que, sobre ser brasileira, deseja assimilar e ter parentesco com certa profusão entrópica ocorrida em outros lugares do planeta Terra, posto a qualquer momento ao alcance de todos, pelos jornais, televisão ou telstar.
Como dissemos no início: o trópico, historica e sociologicamente, deu em Gilberto Freyre. O trópico, sensação cotidiana e antropológica, deu em Caetano Veloso. Um quer ver o mundo através da região, da tradição, da nação. Outro vê o país através do mundo. Um deságua em tropicalismo, o outro em tropicália. São duas concepções com dois destinos: o primeiro quer diacronicamente, nos manter lisos e lusos, conservando um fio umbilical entre colônia, metrópole e independência; o segundo nos propõem uma simultaneidade integrativa, de tal modo que Brasília, o Vietnã, os Beatles ou o Mercado Comum Europeu cumulem uma massa, conflitante ou não, de informações das quais, agora, precisamos ter inteligência e compreensão. Por ser expositivo e sucessivo, o tropicalismo envolve manifestações culturais brasileiras da carta de Caminha ao ciclo de 22 inteiro (com pau-brasil, verde-amarelismo, antropofagia e poema-piada juntos). Por ser sumária e simultânea, a tropicália constitui fenômeno de linguagem própria de uma era que, sendo tecnológica e culturalmente massificadora, provoca a convocação heterogênea dos fatos e seus significados. Fenômeno pop-kitsch. O tropicalismo encontra abrigo no consumo vertical do livro; a tropicália no consumo horizontal do disco, possível de ser ouvido a um só tempo, por quase toda a população nacional.
De tudo isso, porém, pode nos restar uma dúvida: a de que “ismo” e “ália” sobrevivam e se alimentem, apenas, de sua bossa, sem tirar ninguém da fossa. Seja a fossa histórica crônica e diacrônica, seja a fossa momentânea, sintomática e sincrônica.