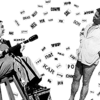Eubioticamente atraídos

tropicália: vanguarda
Visões estrangeiras
Tropicália: vanguarda, cultura popular e indústria cultural no Brasil (1967-1972)
Carlos Basualdo
[…] como, num país subdesenvolvido, explicar o aparecimento de uma vanguarda e justificá-la não como uma alienação sintomática, mas como um fator decisivo no progresso coletivo?
Hélio Oiticica, “Esquema geral da Nova Objetividade”
Com a barriga vazia
Não consigo dormir
E com o bucho mais cheio comecei a pensar
Que eu me organizando posso desorganizar
Que eu desorganizando posso me organizar
Chico Science, “Da Lama ao Caos”
1. Por que não
As fotos de época, por mais pitorescas que sejam, não dizem muito. Na quinta edição de Balanço da bossa, vemos duas fotos de Caetano Veloso, inusitadamente jovem, por ocasião de sua interpretação de “Alegria, Alegria” no palco do teatro Paramount, em outubro de 1967, no terceiro festival da Record. De casaco esporte e suéter de gola rulê, o cabelo crespo, estende o braço esquerdo para apresentar um de seus músicos, que inclina ligeiramente a cabeça — o rosto parcialmente coberto pelo cabelo longo — e recebe a saudação agarrado à sua guitarra elétrica. À direita do carismático músico baiano, um sorridente locutor de smoking aplaude, junto a uma mulher muito maquiada e de longo. A foto não revela o escândalo desencadeado pouco antes, ao divulgar-se na imprensa que Veloso interpretaria sua canção acompanhado da banda de rock argentina Beat Boys. Para dar uma idéia do intenso clima de debate suscitado, lembremos que, apenas alguns dias antes da realização do festival, ele declarara à coluna de Torquato Neto no Jornal dos Sports que:
É bobagem insistir em fazer do samba uma forma para museus, morto. O samba não morreu: está crescendo. É isso o que me interessa… Guitarra elétrica é um instrumento muito bonito. E desde que existe que é utilizada no samba. Cresci ouvindo os trios elétricos da Bahia, que ainda hoje animam o carnaval de lá: e nunca ninguém pensou em dizer que os trios elétricos tocam iê-iê-iê.1
Nem as fotos em preto-e-branco, nem as imagens gravadas que se conservam do evento conseguem transmitir inteiramente o clima que o envolveu. Havia apenas um ano, Caetano tinha sido visto, de terno escuro e gravata, tal como era habitual entre os participantes do segundo festival, sorrindo nos bastidores ao inteirar-se de que havia sido eleito o melhor letrista do evento. Agora, um ano depois, ele se encontrava de pé no palco, vestindo um casaco de tweed e um suéter laranja de gola rulê, cantando uma marcha de letra psicodélica acompanhado de guitarras elétricas. Ao retirar-se sorrindo, ovacionado por um público do qual não esperava senão vaias, não podia saber que, com esse gesto simbólico, havia posto em marcha oficialmente uma das transformações mais violentas e profundas da história recente, não somente da música popular, mas também da cultura brasileira em geral.
O motivo pelo qual o uso de guitarras elétricas em um festival de música popular havia se tornado um ponto tão delicado e contencioso se devia à posição que esta ocupava no Brasil do fim dos anos 60. No período que começa com o início da ditadura militar em 1964 — e que em certa medida se encerraria em 1968, ao ser decretado o ai-5 —, a música popular havia se tornado o veículo privilegiado de dissensão política. No imaginário cultural da época, correspondia à música popular, em grande parte, o papel de articular um ideal de nação — concebido em função de revalorizar suas “raízes” culturais — e de exercer a liberdade de expressão em clara oposição ao projeto ideológico e político dos militares.
Para um importante setor da música popular, fortemente influenciada pela ideologia associada aos Centros Populares de Cultura (cpcs), tratava-se de veicular uma mensagem claramente contestatória, e inclusive de conotações revolucionárias, enquanto em nível formal a intenção consistia em manter-se supostamente fiel à tradição musical popular, ou seja, a de articular o projeto de uma identidade nacional que o pensamento de esquerda mais ortodoxo encontrava em germe nas expressões populares.
Para Veloso — assim como para Glauber Rocha, Hélio Oiticica e José Celso Martinez Corrêa —, essa posição conseguia unicamente folclorizar os materiais culturais com os quais trabalhava, inibindo a possibilidade de ensaiar uma reflexão efetiva e mobilizadora acerca da situação da cultura brasileira contemporânea, e de situá-la precisa e efetivamente no contexto internacional. Esse espaço de reflexão somente podia ser alcançado por meio de um ato de violência, da gênese de uma “tentativa crítica da cultura brasileira através da utilização como matéria de todas as tendências e expressão dessa cultura”, como escreveriam, meio de brincadeira e muito a sério, José Carlos Capinam e Torquato Neto no roteiro do nunca realizado programa de televisão Vida, paixão e banana do tropicalismo.2
Esse projeto, que havia sido claramente prefigurado seis meses antes por Hélio Oiticica em seu “Esquema geral da Nova Objetividade”, e paralelamente por José Celso em seu “Manifesto do Oficina”, consistia, em síntese, na formulação de um movimento de vanguarda no Brasil. Tal como escreveu Oiticica nessa oportunidade: “O fenômeno da vanguarda no Brasil não é mais hoje questão de um grupo provindo de uma elite isolada, mas uma questão cultural ampla, de grande alçada, tendendo às soluções coletivas”.3 Ou, nas palavras de Martinez Corrêa: “Para exprimir uma realidade nova e complexa era preciso reinventar formas que captassem essa nova realidade”.4 Essa realidade era a de um país em vias de desenvolvimento, com uma população mestiça e uma cultura popular riquíssima na qual confluem influências indígenas, africanas e européias, no contexto de um governo repressivo, que impunha o padrão nascente de um desenvolvimento industrial acelerado a uma sociedade já marcada por diferenças sociais abismais e uma distribuição da riqueza absolutamente carente de eqüidade. Tratava-se de um projeto de vanguarda que, em determinadas instâncias, buscaria dialogar com a nascente indústria cultural, de forma a evitar tornar-se exclusivo e elitista. E o salvo-conduto que supostamente permitiria e até estimularia esse diálogo — um diálogo improvável quando se têm em conta os avatares das vanguardas históricas européias — não seria outro senão uma leitura cuidadosa e atenta dessa mesma cultura popular que a música popular brasileira dizia defender.
Quando Caetano se vê forçado a defender o uso de estratégias provenientes do rock como meio de atualizar e potencializar a produção musical no Brasil, não encontra melhor argumento senão referir-se ao uso dessas estratégias, justamente, na cultura popular. Guitarras elétricas, afirma ele, respondendo aos ciosos guardiões da tradição musical, são usadas desde sempre nos trios elétricos do carnaval da Bahia. Ou seja, nada mais inovador que o uso livre das referências que a cultura popular põe em prática cotidianamente como estratégia de sobrevivência.5
Aquele comentário específico de Caetano — embora possivelmente motivado pelo desejo de distrair a atenção do leitor daquela que, na realidade, parece haver sido a intenção primeira, tanto sua como de Gilberto Gil, relativa à introdução de elementos do rock no contexto da música popular brasileira — serve, indubitavelmente, para enfatizar a concepção de cultura popular que motivava ambos os músicos baianos. Tratava-se de concebê-la menos como o resultado de um processo do que como o próprio processo; portanto, em seu caráter dinâmico e em sua capacidade de manter esse dinamismo a partir de uma abertura estrutural às influências e estímulos externos.
Para Caetano e Gil, assim como para Oiticica e José Celso, a cultura popular não se resume a uma coleção de modismos ou imagens preestabelecidas, mas consiste antes de tudo em uma determinada mecânica de apreender, interpretar e reformular a informação circulante. Essa potência inerente a expressões populares como o carnaval, por exemplo, a música nordestina ou a arte da rua, seria o meio que, idealmente, permitiria a esses artistas, ao mesmo tempo, revolucionar as formas culturais com as quais trabalhavam e fazê-lo de tal maneira que o resultado não fosse alienante ou alienado com relação ao grande público.
É nesse sentido que deve ser entendido, no teatro de José Celso Martinez Corrêa, o recurso a formas populares tais como o circo, o teatro de revista e a opereta, a busca, em síntese, de uma “[…] superteatralidade, a superação mesmo do racionalismo brechtiano através de uma arte teatral síntese de todas as artes e não artes, circo, show, teatro de revista etc.”.6
Para Oiticica, esse recurso se resume — partindo de uma matriz de análise puramente construtiva — na exploração da arquitetura das favelas cariocas em sua instalação Tropicália, a obra que apresentaria por ocasião da mostra coletiva realizada no Museu de Arte Moderna em 1967. Nas palavras do próprio Oiticica, entrar na obra deveria produzir no espectador a sensação de que “estou pisando outra vez a terra”,7 tal como o artista punha na boca do poeta e cineasta Raimundo Amado.
A cultura popular, lida em seu caráter estrutural, se transformaria na potência que permitiria a esses artistas ao mesmo tempo revolucionar as formas da enunciação e os enunciados correspondentes a suas respectivas práticas, e fazê-lo de modo que o processo resultante não carecesse de atrativo para o grande público, convocado cada vez mais em seu caráter participativo.
É evidente que não se tratava tão somente de uma questão de um ou outro instrumento musical, mas sim de uma concepção radicalmente original da cultura brasileira, e inclusive da própria noção de identidade nacional, que vinha acompanhada de mudanças igualmente significativas na atitude dos artistas, músicos e autores perante a situação social e política imperante no país. O suéter de gola rulê de Caetano, seu enorme sorriso, acompanhado do gesto de estender amplamente os braços em um abraço imaginário ao repetir o estribilho de “Alegria, Alegria”, equivalem à proposição inédita de um modo de vida. As fotos não dizem muito, mas a sensação que causa vê-lo cantando, sorrindo e perguntando a seu público, composto majoritariamente de jovens estudantes de classe média, “Por que não?” é, no mínimo, comovente. É assim ao vê-lo em um registro de arquivo do evento, filmado em preto-e-branco, e deve ter sido mais ainda há quase quatro décadas, no contexto de uma ditadura militar progressivamente repressiva e em um país cuja ânsia de modernidade, justiça social e progresso se via, diariamente, negada de modo brutal. Diante dessa realidade, diante do público que assistia ao festival no teatro e da crescente audiência anônima que o fazia por meio da televisão, Caetano oferecia a forma de uma afirmação que pergunta, aberta a tudo. Uma pergunta que ultrapassa a própria negação que contém, constituindo-se, antes de tudo, em uma afirmação da experiência — e do experimental.
Detenhamo-nos um momento nos matizes e ressonâncias desse acontecimento singular. Um músico de 25 anos, talentoso, mas ainda pouco conhecido, se apresenta diante de um público que supõe hostil com a vontade manifesta de continuar com seu trabalho “a linha evolutiva da música popular no Brasil”.8 O rosto de Caetano, cantando no Festival da tv Record, é menos o rosto de um indivíduo específico que a expressão nascente de uma época. Vê-lo é recordar os Beatles, o maio francês ainda por vir, as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, as minissaias, Andy Warhol, a Primavera de Praga, as manifestações estudantis contra a ditadura no Brasil e na Argentina, a resistência armada, a repressão, a tortura, o terrorismo de Estado. Tudo está ali, potencialmente, contido nesses gestos. “Por que não” sintetiza a tentativa de um grupo de artistas, escritores e cineastas de situar a cultura brasileira em um contexto mundial, com relação às mudanças revolucionárias de fim dos anos 60. É a tentativa de buscar o lugar do Brasil nesse mundo, de devolver o mundo ao Brasil e o Brasil ao mundo — “Aqui é o fim do mundo”, denunciará Torquato Neto na voz de Gilberto Gil pouco menos de um ano depois.9 Passados quase quarenta anos, a aposta implícita no estribilho de “Alegria, Alegria”, tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, é capaz de vibrar ainda na dulcíssima voz de Caetano.
“Por que não” é uma pergunta: por que não usar guitarras elétricas, o cabelo comprido, um suéter laranja de gola rulê em vez de um terno escuro? Mas também, por que não continuar a “linha evolutiva” da música popular brasileira, o trabalho extraordinário de gente como Tom Jobim e João Gilberto, por meio de um diálogo entre o rock e a música erudita, entre Beatles e Webern? E, mais ainda, por que não pensar a identidade nacional brasileira como um processo aberto, em desenvolvimento permanente? Não como uma busca interminável das origens — como quereria o modelo herdado da Europa —, mas sim como uma aposta, permanentemente renovada, na incorporação e elaboração seletiva dos estímulos culturais, seja qual for sua procedência. Por que restringir, aprioristicamente, o rol de experimentos possíveis a serem realizados a partir de uma forma artística determinada?
Mas o modo como a pergunta aparece formulada a torna menos uma interrogação do que uma afirmação escondida. Não se pergunta então, mas sim se afirma. E aquilo que se afirma é uma negação mantida em suspenso. O dispositivo semântico é complexo: a frase contém uma pergunta que não se expressa como tal, uma afirmação suspensa pelo tom interrogativo, e uma negação contradita pelo caráter afirmativo e inquisidor da proposição. Interessa, sobretudo, o fato de que não se trata de pôr em cena uma pura negatividade, nem uma afirmação dogmática.
A dimensão absolutamente inovadora do trabalho de Caetano, José Celso, Oiticica, entre outros que compõem a constelação tropicalista, é lançada toda de uma vez na estrutura dessa frase. Não se tratará simplesmente de uma crítica ao estado de coisas no Brasil, se por crítica se entende o exercício de uma estratégia baseada na negatividade — a negação do que é em função de atualizar potencialmente um futuro possível. Também não se trata de uma mera celebração daquilo que existe. Nem crítica, no sentido opositivo, nem festejo, inocente ou cínico, o tropicalismo pretenderá constituir-se em um mecanismo capaz de incorporar — de assimilar antropofágica e, portanto, seletivamente — a complexa totalidade da realidade cultural brasileira com o fim de desencadear um processo de transformação radical. Parafraseando José Celso, somente pode haver crítica onde há história e progresso, em um país cuja história “não pode fluir”, contida por condicionamentos políticos e econômicos de ordem regressiva — ou seja, em um contexto em que a noção hegeliana de história não é válida —, “a história real somente se fará com a devoração total da estrutura”.10
Em Oiticica, Caetano e José Celso, a razão antropofágica — tal como a enunciara o poeta e ensaísta Oswald de Andrade no final da década de 20 em seu “Manifesto Antropófago” — substitui o cartesianismo. Não é casual que tanto Oiticica como José Celso citem reiteradamente Oswald em seus textos mais programáticos. Nas palavras de Oiticica:
A antropofagia seria a defesa que possuímos contra tal domínio exterior, e a principal arma criativa, essa vontade construtiva, o que não impediu de todo uma espécie de colonialismo cultural, que de modo objetivo queremos hoje abolir, absorvendo-o definitivamente numa superantropofagia.11
E em uma entrevista publicada na Revista Civilização Brasileira em julho de 1968, o diretor do Oficina declara:
Oswald é a possibilidade de uma cultura crítica, fora do oficialismo, do lirismo, do romantismo político. E é o oposto disso. É a devoração antropofágica de todos os mitos criados para impedir este país de copular com a sua realidade e inventar sua história.12
A constelação tropicalista fará de Oswald de Andrade a chave de leitura que permitirá a seus protagonistas incorporar elementos provenientes da cultura popular em uma estratégia de renovação das artes articulada como projeto de vanguarda. O logos antropofágico — uma afirmação que pergunta e uma pergunta que, ao afirmar, nega — constituir-se-á no vetor dessa busca.
2. Think Tropicália
Oiticica parece haver considerado a criação dos nomes “Tropicália” e “Supra-sensorial” importante o suficiente para registrá-los na Oficina Nacional de Patentes Intelectuais; no entanto, é difícil identificar na extensa e labiríntica coleção de escritos, apontamentos, notas, cartas e rascunhos que constitui o Acervo ho13 qualquer referência à gênese de um termo que estaria destinado a inscrever-se indelevelmente na memória coletiva do Brasil.
Tropicália é, antes de mais nada, o título de uma obra, constituída pela associação de dois de seus “Penetráveis”,14 pn2 e pn3, e apresentada por Oiticica no contexto da mostra Nova Objetividade Brasileira, em cuja organização ele havia assumido um caráter protagonista fundamental. Tratava-se de uma obra inicialmente destinada a incorporar os trabalhos de outros artistas, um labirinto sensorial que acabava por afrontar o espectador com um televisor ligado. “A obra mais antropofágica da arte brasileira”, escreveria seu autor em um texto de 4 de março de 1968, um mês depois que o jornalista Nelson Motta havia declarado oficialmente iniciada a “Cruzada Tropicalista”, em 5 de fevereiro, na coluna que escrevia no jornal Última Hora, do Rio de Janeiro.
Antes de transformar-se em um termo icônico, em um nome-monumento, Tropicália era, no contexto do trabalho de Oiticica, “a primeiríssima tentativa consciente, objetiva, de impor uma imagem obviamente ‘brasileira’ ao contexto atual da vanguarda e das manifestações em geral da arte nacional”.15 Tropicália, portanto, é uma obra estratégica, já que com ela Oiticica tentava pôr à prova uma série de imagens específicas — e isso no contexto de um trabalho que até o momento se havia caracterizado pelo alto nível de abstração e complexidade estrutural — e fazer isso justamente como resposta ao que, no seu modo de ver, constituía o panorama da arte internacional de vanguarda.
No ensaio introdutório do catálogo da mostra Nova Objetividade Brasileira, Oiticica se havia referido, breve e precisamente, a esse contexto internacional, ao contrastar um determinado estado da arte brasileira do final dos anos 60 — o qual tentava caracterizar em seu texto — com as “duas grandes correntes de hoje: pop e op, e também das ligadas a essas: Noveau Réalisme e Primary Structures (Hard Edge)”.16 Ou seja, aquilo de que Tropicália deveria diferenciar-se, mas ao mesmo tempo contestar, responder, portanto, dando conta de sua presença e importância no panorama internacional, eram a arte pop e suas derivações européias, as correntes construtivas tardias e o minimalismo. São estas as coordenadas a partir das quais Tropicália levaria a cabo seu assombroso trabalho de descentramento. Tratava-se, então, de declinar na obra as possíveis variações de uma imagem “brasileira”. “Para isto criei como que um cenário tropical com plantas, araras, areia, pedrinhas”.17 Esse cenário evocaria as paisagens das obras do período antropofágico de Tarsila do Amaral, a pintora modernista brasileira, segundo nota Oiticica em um texto inédito que faz parte do Acervo ho.
A paisagem de Tropicália estaria inspirada, por um lado, naquilo que os clichês da brasilidade constituem, assumidos como tais em uma adoção ao mesmo tempo irônica e celebradora; e por outro, na experiência de “caminhar pelos morros, pela favela”, à qual o artista — e passista da ala “Vê se me Entende” da escola de samba Estação Primeira de Mangueira — se refere em tantas oportunidades com relação à obra.18 Dois anos antes, Oiticica havia tentado levar “a favela ao asfalto” — para usar uma expressão cara ao antropólogo Hermano Vianna — ao apresentar seus recentemente criados “Parangolés”, vestidos por um grupo de sambistas do morro carioca da Mangueira no contexto da mostra Opinião 65, no mesmo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em que se apresentara Nova Objetividade Brasileira, em abril de 1967. Naquela ocasião, artista e sambistas haviam sido expulsos do interior do museu;19 agora era a própria favela que se encontrava firmemente implantada em seu interior, no centro mesmo de uma mostra em parte concebida pelo autor dos Parangolés e destinada a constituir-se em um manifesto explícito da vanguarda brasileira.
Tratava-se dessa favela que Oiticica conhecia e visitava assiduamente desde 1964, quando havia sido convidado pelo escultor Jackson Ribeiro — que por sua vez colaborava com Amílcar de Castro, integrante do grupo Neoconcreto com Oiticica e Lygia Clark — para trabalhar no desenho das alegorias com que a escola de samba da Mangueira desfilaria no carnaval desse ano.20 Essa favela da qual tantos de seus amigos tinham querido afastá-lo repetidamente, como menciona em uma carta a Lygia Clark escrita em Londres em 7 de junho de 1969: “quando me diziam: — não vá à Mangueira. Pensava eu: não digo nada e vou”. 21
Evidentemente, no início dos anos 60, e da perspectiva talvez um tanto romântica de Oiticica, a Mangueira representava um universo proibido, a marginalidade à qual o artista faz referência tão freqüentemente em suas cartas a Clark, e que ele definia como a sensação de encontrar-se fora das barreiras de classe, livre com relação ao “cerco burguês ou pequeno burguês em que me encontrava”.22 É com relação à violência que parece haver implicado nesse momento uma ruptura desse tipo — equivalente, em muitos aspectos, embora num sentido oposto, a incorporar guitarras elétricas em um festival de música popular brasileira — que deve situar-se o gesto estratégico e premeditado por parte de Oiticica para posicionar Tropicália no centro de um projeto cultural de vanguarda. E aqui aparece com toda a clareza a dimensão propriamente ética que ele reclamava para a produção artística no Brasil. Tropicália não era senão o veículo que inocularia no elitismo cultural nacional o substrato mesmo da cultura popular à qual tanto havia querido, desde sempre, resistir. Aquilo, então, que a seus olhos lhe permitiria contrapor-se às vanguardas internacionais, não era senão a experiência de um “‘descondicionamento’ social” como o que ele mesmo experimentava na Mangueira.23 Essa experiência requereria, pelo menos em um primeiro momento, ser significada por meio de um conjunto de imagens — às quais não deveria ficar imediatamente assimilada — capazes de evocar “uma carga subjetiva que muito difere do racionalismo europeu”,24 tal como escreve ao referir-se às obras de Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Uma obra, então, mas também um ato reivindicativo, a instauração de um mito, “o mito da miscigenação — somos negros, índios, brancos, tudo ao mesmo tempo”. 25 Ao que acrescentaria, antecipando-se às incontáveis e intermináveis polêmicas que o tropicalismo geraria: “o mito da tropicalidade é muito mais do que araras e bananeiras: é a consciência de um não-condicionamento às estruturas estabelecidas, portanto altamente revolucionário na sua totalidade”.26 Um mito estrategicamente concebido como contraparte da mitificação fetichista do objeto de arte realizada por uma elite cultural dependente, uma experiência estética que buscava fundar a identidade nacional a partir da superação das barreiras de classe.
Luciano Figueiredo, artista plástico e diretor do Centro de Arte Hélio Oiticica no Rio de Janeiro, sugeriu que a gênese do nome “Tropicália” estaria intimamente ligada a Brasília, nessa época a recentemente construída capital do país na região do Planalto Central. Em parte, poderia afirmar-se que Brasília é o dado real, efetivo, ao qual se contrapõe seu duplo mítico, Tropicália.
No imaginário social brasileiro de meados dos anos 60, Brasília representava a espessa trama de esperanças e contradições que demarcava, inclusive foneticamente, o horizonte de possibilidades do país. Em 1964, a capital supermoderna, cidade-modelo escultoricamente imposta à aridez da paisagem do Planalto Central, havia deixado de ser uma miragem construtiva atualizada pelo ímpeto desenvolvimentista do presidente Juscelino Kubitschek, para transformar-se no ameaçador centro de comando de uma opressiva ditadura militar. A ilusão de transparência própria da modernidade havia se tornado, no Brasil, subitamente opaca.
A essa opacidade parece referir-se de maneira ao mesmo tempo oblíqua e precisa a letra da canção destinada a inaugurar o primeiro disco solo de Caetano Veloso, cuja gravação havia sido em grande parte conseqüência da boa receptividade de “Alegria, Alegria” no Festival da tv Record de 1967. Tratava-se de uma espécie de collage, entre irônica e celebradora, que justapunha carnaval e mulatas ao ato de inauguração de um grotesco monumento “de papel crepom e prata”, localizado justamente no Planalto Central.
Essa canção, a favorita de Veloso nesse momento, a que sintetizava, na opinião do músico, as intenções do disco em sua totalidade — e inclusive, se diria, o projeto artístico no qual havia mergulhado programaticamente em momento anterior a sua apresentação no Festival da tv Record —, permaneceu sem título vários dias depois de ter sido gravada. Foi um cineasta vinculado ao Cinema Novo, Luis Carlos Barreto, que sugeriu a Veloso, por ocasião de um encontro informal, que utilizasse o nome da obra de Oiticica para titular sua canção. Veloso não parece haver recebido a sugestão de bom grado inicialmente. “Eu naturalmente disse que não, que não poria o nome da obra de outra pessoa na minha música, que essa pessoa poderia não gostar”, rememora o músico baiano.27 E, no entanto, o entusiasmo a seu redor era unânime. Seu empresário na época, Guilherme Araújo, apóia a opinião de Barreto, e o produtor do disco, Manuel Barenbeim, decide escrever o nome no rótulo da fita na qual a canção tinha sido gravada. Havia sido Brasília, antes de tudo, o disparador emocional da canção de Veloso:
A idéia de Brasília fez meu coração disparar… Brasília, a capital-monumento, o sonho mágico transformado em experimento moderno — e quase desde o princípio, o centro do poder abominável dos ditadores militares. […] Brasília, sem ser nomeada, seria o centro da canção-monumento aberrante que eu ergueria à nossa dor, à nossa delícia e ao nosso ridículo. 28
Exatamente as mesmas palavras poderiam haver sido postas na boca de Oiticica. Sem dúvida, algo havia nesse nome que parecia repudiar a noção de autoria. Em 1967, apenas inventado, Oiticica se empenha em defini-lo e redefini-lo, iniciando um jogo de significações que, uma vez inaugurado, inevitavelmente conduz essa obra singular a transformar-se em uma espécie de obra-monumento. A mesma insistência com a qual o artista reclama — e proclama, a quem quisesse ouvi-lo29 — a paternidade do termo, vê-se refletida na veemência com que Veloso o rejeita inicialmente, e o incômodo com o qual ainda hoje parece referir-se a ele.30 Oiticica mostrar-se-á alternadamente surpreso, orgulhoso e irritado com relação aos diversos contextos culturais aos quais sua invenção será relacionada. Em parte, sua obra inteira se voltará contra as conseqüências mais evidentes, implícitas na apropriação desse termo para designar uma mudança sísmica na cultura de massa no Brasil. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, acabará fazendo desse nome uma verdadeira bandeira de guerra e um cartão de apresentação, recorrendo a seus poderes de sugestão, quando, já vivendo fora do país, se encontre confrontado a um universo cultural em que a lógica de seu trabalho e do de seus colegas se revela dificilmente compreensível.
Esse estranhamento que a palavra “Tropicália” e seus usos produziram e produzem — já não exclusivamente em Veloso e Oiticica — não é prova senão de seu alto grau de instabilidade semântica, do fato de que, nem bem formulada, toda significação que aparentemente designasse era provisória, altamente incerta. Tropicália passou de nome de uma obra determinada e de uma canção específica a ser o apelativo de uma moda, de um movimento sociocultural indefinível, de um possível futuro. Evidentemente, há algo no termo em si mesmo que torna toda paternidade que lhe é atribuída — todo conjunto de significados que pretende circunscrevê-lo — inevitavelmente duvidosa.
Tropicália estava destinada menos a designar uma ou outra obra singular que a transformar-se em um catalisador da discussão e do debate. Esse nome-monumento é, na realidade, menos o de uma forma plástica ou musical definida que o de um projeto cultural coletivo, formulado nesses e em outros trabalhos realizados no breve espaço dos últimos anos da década de 60, destinado a “exprimir uma realidade nova e complexa”.31 Uma vez que começasse a circular, de mãos dadas com a indústria da cultura, e no lapso de uns poucos meses, suas inflexões estariam destinadas a marcar indelevelmente o imaginário cultural do Brasil.
Em 29 de setembro de 1967, José Celso José Celso estreava sua versão d’O Rei da Vela na cidade de São Paulo. No mês seguinte, Veloso era lançado ao estrelato depois de sua participação no Festival da tv Record cantando “Alegria, Alegria”. Seu casamento com Dedé Gadelha em Salvador, Bahia, em 20 de novembro, receberia uma atenção inédita por parte do público e da imprensa, com verdadeiras multidões transbordando da igreja de São Pedro — que o casal havia escolhido, em segredo, para a cerimônia —, repetindo exaltadas as estrofes da já célebre canção. Havia se iniciado um dos períodos mais agitados e tempestuosos da cultura brasileira contemporânea, cuja atividade febril se prolongaria até o final do ano seguinte, quando a declaração do Ato Institucional n. 5 pelo governo militar — quase coincidente com a prisão de Veloso e Gil — a interromperia violentamente.
Em seu “Esquema Geral da Nova Objetividade”, Oiticica havia preconizado a passagem de formas tradicionais da atividade artística, tais como a escultura e a pintura, a uma arte baseada em objetos providos de caráter participativo. Uma parte importante de seus textos se encontrava destinada à análise desse tipo de objetos, os quais alternadamente o artista chamaria “não-objetos” — usando a terminologia proposta por Ferreira Gullar em sua “Teoria do não-objeto” de 1959 —, “transobjetos” e, finalmente, “probjetos”; este último termo, de autoria de Rogério Duarte, um escritor e designer gráfico nascido na Bahia, cuja amizade com Oiticica, Gil e Veloso seria para todos eles uma importante fonte de alento e inspiração. Oiticica cita Duarte quando escreve que “‘probjeto’ seriam os objetos ‘sem formulação’ como obras acabadas mas estruturas abertas ou criadas na hora pela participação”.32 Esses “probjetos” teriam como função apenas facilitar a passagem a uma arte coletiva, plenamente participante, na qual se realizaria o anúncio de tom evidentemente profético com o qual se referia às possibilidades de uma arte de vanguarda no Brasil do final dos anos 60: “O fenômeno da vanguarda no Brasil não é mais hoje questão de um grupo provindo de uma elite isolada, mas uma questão cultural ampla, de grande alçada, tendendo às soluções coletivas”. 33
Como se sentiria Oiticica ao comprovar que, no acelerado processo de popularização do tropicalismo que tão subitamente havia começado meses depois do fechamento da Nova Objetividade Brasileira no mam do Rio de Janeiro, sua hipotética declaração adquiria o estatuto confuso de uma realidade contraditória? Para alguém como ele, um intelectual formado em uma família de intelectuais, cuja atividade cultural se desenvolvia até o momento quase exclusivamente em torno do meio das artes visuais, o tipo de popularidade que subitamente alcançava aquele conjunto de práticas e idéias, que em pouquíssimo tempo seria classificado como “tropicalismo”, não podia senão resultar perturbador e problemático.
Da leitura de seus textos do final dos anos 60, fica evidente que Oiticica concebia a dimensão coletiva como associada à aparente espontaneidade da cultura popular. No mesmo texto introdutório da mostra do mam em que apresentaria Tropicália, o artista fazia notar que suas idéias acerca de uma arte coletiva total provinham da “descoberta de manifestações populares organizadas (escolas de samba, ranchos, frevos, festas de toda ordem, futebol, feiras), e as espontâneas ou os ‘acasos’ (‘arte das ruas’ ou antiarte surgida do acaso)”.34 Essa afirmação merece ser lida de forma detida. Quem “descobria” as escolas de samba? Evidentemente a resposta é uma só: para uma tradição fundamentalmente elitista como a das artes plásticas, fundada na noção moderna de autonomia, qualquer aproximação à arte popular adquiria o halo de uma expedição científica. E que dizer então da rápida assimilação do tropicalismo por uma indústria cultural em velocíssima expansão, tal como ocorria no Brasil da época? A eficaz e progressiva midiatização da saudosa instância coletiva que seus escritos reclamavam deve ter-lhe resultado ao mesmo tempo objeto de fascínio e repulsa.
A primeira reação de Oiticica diante dessa popularização “espúria”, “na contramão”, do tropicalismo não parece ter sido senão de puro espanto. Em um texto rico em contradições escrito em março de 1968 — que permaneceria inédito por vários anos —, afirmava a relevância de “seu” descobrimento35 — reclamando com orgulho a autoria do nome “Tropicália” —, tentava esclarecer o alcance conceitual de seu projeto e criticava aqueles que ousavam “transformar em consumo algo que não sabem direito o que é”.36 Similarmente, em uma carta ao crítico inglês Guy Brett, de 2 de abril de 1968, Oiticica descreve, entre o horror e a maravilha, o impacto do nascente tropicalismo na cultura brasileira.37 O artista reagia à ênfase que os meios de comunicação inevitavelmente punham no aspecto puramente representacional do tropicalismo, o que poderíamos chamar a glorificação das bananas. Para ele, a dimensão das imagens, embora importante em seu projeto, deveria encontrar-se subordinada ao aspecto experiencial e, mais propriamente, vivencial das obras — de sua instalação, mas também das canções do grupo baiano, de filmes como Terra em transe, de Glauber Rocha, ou da representação d’O Rei da Vela a cargo do Teatro Oficina.
Em textos posteriores — tais como “Aparecimento do supra-sensorial na arte brasileira”38 — e inclusive em obras como Éden, Oiticica se empenharia infatigavelmente em separar estes dois âmbitos, imagem e experiência. “Só restará da arte passada o que puder ser apreendido como emoção direta”,39 escreveria já em dezembro de 1967. Uma versão de Tropicália reduzida a um êxtase confuso de imagens banais não poderia senão atormentá-lo. E, no entanto, seu projeto havia sido lançado, desde o princípio, justamente no território das imagens. Tropicália havia sido uma experiência indissociável de sua potência como imagem, e a associação entre imagem e experiência recorreria uma e outra vez no conjunto de obras que Oiticica realizaria até sua morte em 1982 — incluindo, sobretudo, os trabalhos que levaria a cabo em Nova York durante os anos 70, utilizando filme e fotografia. A relação entre imagem e experiência, que tão traumaticamente havia sido destacada em Tropicália, não deixaria de constituir-se em um dos problemas com os quais o artista se defrontaria de modo recorrente nos anos que lhe restavam de vida.
Provenientes de uma tradição diversa, associada a uma forma artística muito mais próxima do universo da mídia, a relação com a indústria cultural era muito menos conflitiva para Veloso e Gil. Em uma entrevista com Caetano Veloso publicada em seu livro de ensaios Balanço da bossa, lançado em 21 de agosto de 1968 em São Paulo, o poeta concreto Augusto de Campos iniciava a conversa referindo-se justamente a esse aspecto do trabalho dos músicos baianos. Campos começa perguntando a Veloso se lhe parecia possível conciliar “a necessidade de comunicação imediata (tendo em vista as grandes massas) com as inovações musicais”, ou seja, a vanguarda com a indústria cultural. Ao que Veloso responde: “Acredito que a necessidade de comunicação com as grandes massas seja responsável, ela mesma, por inovações musicais”.40 Resposta inconcebível para alguém proveniente das artes visuais, como Oiticica.
Cabe perguntar-se se Caetano teria respondido da mesma maneira caso essa pergunta tivesse sido formulada apenas quatro anos mais tarde, após o rotundo fracasso comercial do que foi, possivelmente, seu disco de caráter mais experimental, Araçá azul, gravado no retorno do exílio, em 1972, e lançado no início de 1973 (o disco com maior número de devoluções no mercado brasileiro — como aponta Carlos Calado em sua magnificamente documentada Tropicália: a história de uma revolução musical41 —, mas considerado por Augusto de Campos — segundo este me afirmou pessoalmente, em dezembro de 2003 — como um dos melhores de sua carreira). Mas então, entre 1967 e 1968, pelo menos para um setor crescentemente importante da intelectualidade brasileira, parecia possível pensar em uma associação estreita entre arte de vanguarda, cultura popular e indústria da cultura. O frenesi desses meses e as profundas transformações que produziria na cultura brasileira atestam essa profissão de fé.
A partir de um trabalho original de reformulação das ferramentas analíticas que a tradição das artes visuais lhe proporcionava, Oiticica havia podido mediar com êxito a passagem entre vanguarda e cultura popular no âmbito específico de seu trabalho artístico. Essa mediação havia resultado na formulação, por um lado, de uma obra singular e, por outro, de um projeto artístico que se pretendia de caráter coletivo. Agora, o artista se confrontava com a evidência de que esse projeto artístico era, na realidade, parte integrante de um verdadeiro movimento cultural, que, em nome de uma releitura da obra de Oswald de Andrade, articulava uma crítica da sociedade brasileira de caráter fundamentalmente propositivo.
Diante de semelhante estado de coisas, Oiticica parece haver reagido de duas maneiras complementares, mas ao mesmo tempo opostas: por um lado, e depois de rebelar-se contra os usos midiáticos das imagens associadas à constelação tropicalista, convertendo-se em defensor e divulgador do movimento, no momento em que inclusive a integridade física de alguns de seus membros se encontrava ameaçada; por outro, e diante da evidente invisibilidade relativa da prática artística ante a popularidade crescente que correspondia a outras esferas da atividade cultural associadas à cultura de massa, redefinindo sua atividade como “subterrânea”.
Oiticica havia partido do Brasil para Londres em 6 de dezembro de 1968 — um ano marcado pela intensa atividade dos tropicalistas e a cobertura frenética da mídia, refletida na constante presença de seus protagonistas na televisão e na imprensa —, às vésperas da realização de sua mostra individual na Whitechapel Gallery (que seria inaugurada em 18 de fevereiro do ano seguinte). Apenas uma semana após sua partida, em 13 de dezembro, o governo militar decretaria o ai-5. E quinze dias depois, em 28 de dezembro, Caetano e Gil seriam detidos e presos pela polícia militar, sem que o motivo ficasse esclarecido. Se se pode afirmar que a Tropicália teve início em abril de 1967 — com a inauguração da mostra do mam do Rio de Janeiro —, pode igualmente ser dito que, em parte, termina nesse mês de dezembro de 1968, com a prisão dos músicos baianos.
“Eu quero ir minha gente / Eu não sou daqui / Eu não tenho nada”, ouve-se Veloso cantar em “Irene”, gravada em Salvador em meados de 1969, durante o período no qual o músico se encontrava ainda em prisão domiciliar.42 A sensação de alienação perdurará no exílio em Londres: “Mas eu não sou daqui/ Eu não tenho amor/ Eu sou da Bahia/ De São Salvador”.43
Quase como um eco, em agosto de 1969, também em Londres, depois de sua exposição na Whitechapel e alguns meses antes de partir, em outubro, para a Universidade de Sussex, onde residiria por quase dois meses, Oiticica escreveria em seu caderno de anotações: “eu não tenho lugar no mundo — onde está o Brasil”.44
O caráter repressivo da ditadura brasileira havia acabado por fraturar a dimensão coletiva da experiência tropicalista. Caetano e Gil seriam liberados na quarta-feira de Cinzas de 1969 sob a condição de cumprir prisão domiciliar na Bahia, de onde só sairiam para o exílio no mês de julho. Oiticica retornaria ao país em janeiro de 1970 e, depois de uma breve viagem a Nova York para participar da mostra Information, organizada por Kynaston Mcshine, no Museu de Arte Moderna, voltaria em janeiro do ano seguinte, com uma bolsa da Fundação Guggenheim, a essa cidade, onde permaneceria pelo período de oito anos. Caetano enfim regressaria do exílio em janeiro de 1972. Já no Brasil, entrevistado pela conservadora Veja, declararia:
Eu não quero assumir nenhum tipo de liderança. Quero só cantar as minhas músicas, para as pessoas verem que continuamos cantando e trabalhando. Não existe mais nenhuma esperança de organizar as pessoas em torno de um ideal comum.45
O fim do tropicalismo, que havia começado no final de 1968, acabava de selar-se. A ditadura militar brasileira, em contraste, prolongar-se-ia ainda por mais de uma década, até 1986.
Quando Oiticica escreve “Subterrânia” em Londres — precisamente em 21 de setembro de 1969, como consta no cabeçalho do texto —, já devia ser evidente para ele que a dimensão coletiva e potencialmente revolucionária do tropicalismo havia sido em grande parte neutralizada pela ação combinada da repressão estatal com a banalização midiática. Por outro lado, tomava progressivamente consciência da incompatibilidade que a lógica de projeto artístico guardava com relação ao funcionamento da indústria cultural. A formulação de “Subterrânia” estaria destinada em parte a articular uma opção estratégica ante constatações dessa ordem.
Em 1968, Oiticica identificava sua posição como artista com a do “marginal” — uma marginalidade que sentia como a oportunidade de obter uma “surpreendente liberdade de ação”.46 Essa atração pela marginalidade provinha do desejo de situar-se fora das limitações de classe. Para Herbert Marcuse, de quem era um leitor apaixonado, os intelectuais eram marginais enquanto possuíssem a capacidade de situar-se fora do trabalho produtivo alienante. O tropicalismo costuma contrapor-se, em grande parte da literatura que produziu, à emergência do que se convencionouchamar cultura marginal, supostamente provocada como reação ao endurecimento da ditadura militar. Poderia afirmar-se, por outro lado, que, pelo menos para Oiticica, a marginalidade é desde sempre constitutiva do projeto tropicalista. Há tropicalismo enquanto exista a possibilidade de que o trabalho criativo não seja absorvido completamente pela lógica do capital e reconvertido em trabalho alienante.
Em parte, o projeto tropicalista consistiu justamente na tentativa, usando uma linguagem a que Oiticica era afeito em 1968, de articular uma práxis cultural desalienante — tarefa para a qual a marginalidade se tornava um verdadeiro ponto de inflexão, ao mesmo tempo que uma posição estratégica. É ante a evidência da impossibilidade de continuar com esse projeto que ele formula a noção de “Subterrânia”:
Tropicália é o grito do Brasil para o mundo/ subterrânia do mundo para o Brasil: não quero/ usar underground (é difícil demais pro brasileiro) mas/ subterrânia é a glorificação do sub- atividade-/ homem-mundo-manifestação: não como detrimento/ ou glori-condição-sim: como consciência para vencer/ a super-paranóia-repressão-impotência-negligência do viver: marcha fúnebre-enterro e grito/ […] longe dos olhos/ perto do coração: ou da cor da ação: debaixo da terra47
A formulação de “Subterrânia” implica, portanto, uma instância de luto perante a impossibilidade de articular uma ação cultural coletiva no Brasil. Nela, o desejo de marginalidade tem continuidade e ao mesmo tempo se torna invisível. A outra alternativa à qual Oiticica recorre consiste na difusão internacional do tropicalismo, e o artista assume ativamente essa tarefa por meio da redação de uma série de artigos destinados a promover o movimento e seus participantes, em um ato de generosidade que parece deixar para trás qualquer receio que pudesse haver tido inicialmente com relação ao seu surgimento e popularização.
Os artigos — escritos originalmente em inglês, e aparentemente destinados a serem publicados no International Times —, que versam fundamentalmente sobre a Tropicália e suas possíveis implicações culturais tanto dentro como fora do Brasil, foram redigidos em Londres e em Paris em maio de 1969. O núcleo principal estava constituído por uma série de textos denominada “Tropicalia Time Series”, à qual se somavam dois textos adicionais, “Tropicalia: The New Image” e “Tropicalia: The Image Problem”. Esses textos, que permaneceriam inéditos, são testemunho de sua admiração pelos trabalhos de Rubens Gerchman, Lygia Pape, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Em “Tropicalia: The New Image”, Oiticica escreve:
In Brazil the Word itself is used to define anything very characteristic, in a collective way, today; it has become an adjective, a fashion, covering the most superficial areas but also the most profound thinking in our context. Although fascist Brazilian powers try to kill it, it becomes more and more evident as something that will overcome it, unless they manage really to kill all creative aims in those lands. Anyway, the seed is being thrown in European quarters, let’s wait for America.48
Já em 1969, em sua opinião, o nome-monumento se havia convertido em uma bandeira a ser defendida, e a sobrevivência da Tropicália parecia depender de sua difusão fora do Brasil.
No trabalho de Oiticica, Tropicália teria continuidade em uma série de projetos públicos não realizados — que permaneceriam como desenhos e maquetes —, os “Subterranean Tropicalia Projects”, de 1971. Esses projetos, nos quais a dimensão da imagem aparece reduzida a um mínimo, e com isso o caráter estrutural das obras passa a um absoluto primeiro plano, representam talvez sua resposta detida à exortação que o curador norte-americano Kynaston McShine lhe dirigira em um telegrama enviado à casa do artista no Rio, nos meses que precederam a abertura da exposição Information, no MoMA, em Nova York.
McShine havia convidado Oiticica para a mostra em março de 1970, e nos meses seguintes ambos mantiveram um intercâmbio epistolar referente ao caráter de sua possível participação no projeto. Depois de recusar uma proposta preliminar do artista — que aparentemente envolvia o uso de projeções, podendo por isso ter estado relacionada a Nitrobenzol and Black Linoleum, um projeto que Oiticica havia formulado no ano anterior em Londres — e de instá-lo a utilizar criteriosamente o espaço a ele destinado — um dos maiores da mostra, nas palavras de McShine —, o curador norte-americano lhe escreve um brevíssimo telegrama no qual figuram apenas duas palavras: “Think Tropicalia”. Evidência do impacto que essa obra — e talvez aquilo que havia sido narrado a ele acerca do tropicalismo — haveria causado em McShine, tratava-se, no entanto, de uma exortação profundamente paradoxal. Seguramente, Oiticica haveria achado extremamente irônico o pedido. Em certa medida, no transcurso desses anos — e de muitos dos que lhes sucederiam — não teria feito nem faria outra coisa.
Talvez entre os finais simbólicos possíveis do tropicalismo deveria incluir-se retrospectivamente uma nova data, posterior à do suicídio de Torquato Neto em novembro de 1972 — considerado, junto com o retorno do exílio de Caetano e Gil, um dos marcos de seu encerramento. Em dezembro de 1972, ao fim de dois dos oito anos que permaneceria nos Estados Unidos — muitos dos quais passaria em relativo isolamento com relação ao meio das artes visuais, no qual haveria encontrado muito menos receptividade para suas idéias do que inicialmente parecia haver previsto —, Oiticica redigiu uma tradução para o inglês do “Manifesto Antropófago” de Oswald de Andrade. O tropicalismo terminaria então tal como havia começado: como o desejo de inscrever a cultura brasileira em um horizonte de internacionalismo que se manifestaria, no fim das contas, em um ato de invenção interpretativa destinado a repensá-la — e reformulá-la — em sua totalidade.
Notas
- Jornal dos Sports, 27 set. 67, apud Paulo Roberto Pires (org.), Torquatália, vol. 2 (Geléia geral). Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p. 179.
- J. C. Capinam e Torquato Neto, “Vida, paixão e banana do tropicalismo”, in Paulo Roberto Pires (org.), Torquatália, vol. 1 (Do lado de dentro). Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p. 66.
- Hélio Oiticica, “Esquema geral da nova objetividade”, in Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 95.
- José Celso Martinez Corrêa, “Manifesto do Oficina”, in Oswald de Andrade, O Rei da Vela. São Paulo: Globo, 2000, p. 22.
- Nesta apresentação, emprego o termo “cultura popular” como é de uso no Brasil, que deixa do lado de fora o rádio e o cinema, diferenciando assim o terreno da “cultura popular” do âmbito da “indústria cultural”.
- Martinez Corrêa,, op. cit., p. 25.
- Hélio Oiticica, “Perguntas e respostas para Mário Barata”, in Aspiro ao grande labirinto, cit., p. 99.
- “Que caminhos seguir na música popular brasileira”, Revista de Civilização Brasileira, n. 2, maio 1966.
- Torquato Neto e Gilberto Gil, “Marginália ii”, do disco Gilberto Gil, Phillips, 1968.
- “A guinada de José Celso: entrevista a Tite de Lemos”, Revista de Civilização Brasileira, Caderno Especial, n. 2, jul. 1968, apud Arte em Revista, n. 2, maio-ago. 1979, p. 45.
- “Esquema geral da nova objetividade”, in Aspiro ao grande labirinto, cit., p. 95
- Martinez Corrêa, op. cit.
- O Acervo ho é constituído pelo conjunto dos escritos de e sobre Hélio Oiticica que foram digitalizados pelo Projeto ho. Quero agradecer especialmente a César Oiticica por ter me facilitado o acesso e a consulta a este conjunto de documentos de enorme importância.
- Junto aos Núcleos, Bólides e Parangolés, os Penetráveis — derivados dos Núcleos — constituem uma das ordens nas quais Hélio Oiticica agrupava sua obra com fins classificatórios.
- Hélio Oiticica, “4 de março de 1968”, cit., p. 106.
- Hélio Oiticica, “Esquema geral da nova objetividade”, cit., p. 84.
- Hélio Oiticica, “4 de março de 1968”, cit., p. 107.
- Hélio Oiticica, “Perguntas e respostas para Mário Barata”, cit., p. 99.
- Hermano Vianna, “ ‘Não quero que a vida me faça de otário!’ — Hélio Oiticica como mediador cultural entre o asfalto e o morro”, in Gilberto Velho e Karina Kuschnir (orgs.), Mediação, cultura e política. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- Id., ibid.
- Lygia Clark e Hélio Oiticica, Cartas, 1964-74. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, p. 102.
- Id., ibid., p. 44.
- Hélio Oiticica, “Perguntas e respostas para Mário Barata”, cit., p. 99.
- Lygia Clark e Hélio Oiticica, op. cit., p. 73.
- Hélio Oiticica, “4 de março de 1968”, cit., p. 108.
- Hélio Oiticica, “4 de março de 1968”, cit., p. 109.
- Caetano Veloso, Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 188.
- Id., ibid., p. 185.
- Hélio Oiticica em carta a Guy Brett. Acervo HO.
- Caetano Veloso, Verdade tropical, p. 188.
- José Celso, op. cit., p. 22.
- Lygia Clark e Hélio Oiticica, op. cit., p. 52.
- Hélio Oiticica, “Esquema geral da nova objetividade”, cit., p. 95.
- Id., ibid., p. 96.
- “Devo informar que a designação foi criada por min, muito antes de outras que sobrevieram, até se tornar a moda atual.” Hélio Oiticica, “4 de março de 1968”, cit., p. 108.
- Id., ibid., p. 108.
- Hélio Oiticica em carta a Guy Brett (Rio de Janeiro, 2 abr. 1968, Acervo HO). A carta em sua totalidade constitui um exemplo muito claro das múltiplas e contraditórias emoções que a popularização de Tropicália e a gênese do tropicalismo suscitavam em Oiticica, e pode ser encontrada em www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho.
- Hélio Oiticica, “Aparecimento do supra-sensorial na arte brasileira”, p. 102.
- Id., ibid., p. 105.
- Augusto de Campos, “Conversa com Caetano Veloso”, in Balanço da bossa e outras bossas, 5.ed., São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 199.
- Carlos Calado, Tropicália: a história de uma revolução musical. São Paulo: Editora 34, 1997, p. 295 (nota).
- Caetano Veloso, “Irene”, do disco Caetano Veloso, Phillips, 1969.
- Caetano Veloso, “If You Hold a Stone”, ibid.
- Hélio Oiticica, “LonDocumento, 27 de agosto de 1969, carta para Nelson Motta”, p. 123.
- Apud Carlos Calado, op. cit., p. 288.
- Lygia Clark e Hélio Oiticica, op. cit., p. 44.
- Hélio Oiticica, “Subterrânia”, p. 125.
- Hélio Oiticica, “Tropicalia: The New Image”, Acervo HO.